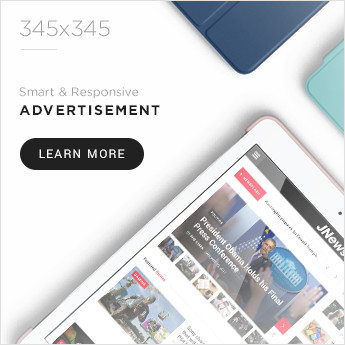Das raízes da assimetria fundiária á realidade dos conflitos existentes entre preservação ambiental e produção agrícola.
Por Antonio Fernando Pinheiro Pedro*
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Ruralismo Paradoxal. 3. O Legado Histórico da Agricultura. 4. O paradoxo cognitivo do Estado brasileiro. 5. O Regime das Sesmarias. 6. A disfunção das sesmarias brasileiras na origem do conflito. 7. O flagelo da escravidão e os quilombos na origem do conflito fundiário. 8. A Lei Civil Tutela a Posse da Terra. 9. Perenização do injusto sistema fundiário nacional. 10. O controle florestal sobre um sistema fundiário predador. 11. O surgimento da codificação florestal. 12. O Espírito Fascista e o Código Florestal de 1934. 13. O espírito produtivista do Código Florestal de 1965. 14. A convivência difícil do Código Florestal com a posterior legislação ambiental. 15. O Biocentrismo fascista e a Medida Provisória de 2001. 16. Um processo legislativo republicano para um novo Código Florestal Republicano. 17. Um mecanismo para a resolução dos conflitos fundiários e ambientais. 18. A batalha principiológica contra a Lei Florestal. 19. A proporcionalidade no trato dos conflitos atuais. 20. Referências. 21Notas.
1. Considerações Iniciais
Embora concentrada nos centros urbanos, a população brasileira guarda profundo traço rural no seu caráter. Também convive com enorme assimetria no regime de terras, com reflexos profundos na concentração de renda, na ocupação urbana, na produção rural, nas relações de poder e, também, no regime de proteção de suas florestas.
Todas essas distorções afetam profundamente as relações do Estado com o setor produtivo, produzindo conflitos de governança e insegurança jurídica.
Dois fenômenos são analisados no presente artigo: as raízes da assimetria fundiária que influi no modo de produção agrícola e a nova estrutura legal de proteção florestal, que busca adequação á realidade dos conflitos existentes entre preservação ambiental e produção agrícola.
2. Ruralismo Paradoxal
O comportamento rural do brasileiro é identificado nas relações de poder, na organização familiar, na cultura da patrimonialista, na constituição e direção das empresas, na organização burocrática do Estado, na vida familiar, nos hábitos alimentares, no gosto musical e até mesmo no hábito de jogar o papel higiênico no lixinho “para não entupir a fossa” (mesmo quando o banheiro é servido por rede de esgoto e o papel higiênico seja feito para se dissolver na água). O bucolismo aparente deste comportamento não esconde a mentalidade senhorial, mercantilista, estatizante e cartorial, consolidada nos mais de quatro quintos da história da nação brasileira.
Não é por outra razão que o direito civil nacional, embora regule todos os aspectos da vida cotidiana do cidadão, não impede nem corrige o enorme desequilíbrio nas relações contratuais entre mais pobres e mais ricos, entre proprietários e posseiros, entre correntistas e corporações bancárias, entre povo e Estado.
Da mesma forma, a secular mentalidade senhorial, profundamente patrimonialista, interfere na compreensão dos operadores da ainda nova disciplina do direito agrário brasileiro, que conta com poucas décadas de vida.
O direito agrário, como disciplina oficial no direito brasileiro, “nasceu” oficialmente com a Emenda Constitucional nº 10, de 10 de novembro de 1964, após incorporado pela Lei Federal 4.504 de 30 de novembro do mesmo ano – o chamado “Estatuto da Terra”, porém nunca se impôs como instrumento consensual e decisivo na resolução dos conflitos oriundos das relações emergentes da nova economia rural, fundada na função social do uso da terra e no conceito empresarial da atividade agrícola, destinada a atender a uma demanda progressivamente ampliad por escalas estratosféricas de produção – tudo para atender à um crescimento populacional urbano explosivo em todo o mundo e no Brasil no espaço de cinco décadas.
A assimetria reflete-se no modo de produção rural brasileiro, que guarda paradoxos marcados pelo contraste entre a impressionante e elogiável agressividade empreendedora do produtor agrícola e a falta de infraestrutura por ele encontrada. A ausência de planejamento governamental, a dependência cíclica de apoio financeiro do Estado, a submissão às demandas internacionais por commodities agrícolas e minerais e a cicatriz ancestral do plantation – mesmo sob o verniz empresarial e digital, formam o caráter do agronegócio brasileiro.
Em meio a essas escalas, insere-se a sucessão de conflitos com a burocracia e a sucessão de normas de controle territorial – intervencionistas e desconectadas com o sistema econômico estabelecido, tuteladas por uma jusburocracia que não confia e não acredita no mérito do empreendedorismo, e não respeita a classe produtora cuja receita tributada a sustenta. Um comportamento atávico, oriundo da relação da antiga metrópole mercantilista com sua colônia de capitanias e sesmarias (que lhe servia como mero centro gerador de recursos).
Se o agrarismo sofre no seu recente nascedouro de poucas décadas atrás, o direito florestal brasileiro, tão antigo quanto o descobrimento do continente americano, desenvolveu-se vivenciando por séculos os mesmos paradoxos – e por isso mesmo sua implementação enfrentou, gerou e ainda gera contradições e “entraves burocráticos”, ao invés de orientar o desenvolvimento sustentável da produção nacional.
Há um vício de origem no direito florestal tupiniquim. Ele sempre buscou o controle territorial prévio dos maciços florestais partindo do pressuposto colonial de que toda a terra pertencia ao rei. Daí porque a norma florestal sempre impôs proibições e restrições administrativas de forma invasiva – afetando propriedades públicas e privadas, transferindo ao empreendedor e ao proprietário a atribuição em princípio do estado, de preservar florestas. Ou, seja, transferiu o ônus de preservar macicos florestais a quem sempre foi economicamente vocacionado a explorá-los.
A contradição inserta nesse mecanismo, por óbvio não resolve e, sim, gera conflitos.
Em que pese a diferença de séculos na idade da formação das duas disciplinas – do direito florestal e do direito agrário, se faz necessário, para resgatar a finalidade social de ambas, preservar produtividade da terra e conservar o patrimônio florestal em função de sua importância ambiental.
Essa valoração jurídica exige um exercício exegético de mão dupla: conferir efetiva funcionalidade econômica à proteção ambiental e conferir efetiva funcionalidade ambiental na gestão da economia – florestal e agrária.
Há que se criar uma norma de reciprocidade.
Ambas as tarefas passam pela eliminação dos paradoxos cognitivos que prejudicam a abordagem transdisciplinar na governança territorial e geram profunda insegurança jurídica – e segurança jurídica é pressuposto do Estado Democrático de Direito.
Posto isso, buscaremos analisar de forma breve a natureza hermenêutica do regime agrário e do regime florestal, para apontar os desvios ideológicos na sua implementação e resgatar sua finalidade exegética.
3. O Legado Histórico da Agricultura
A agricultura brasileira possui tradição multicentenária e constitui traço antropológico de nossa identidade nacional.
A agricultura brasileira evoluiu a partir de três fenômenos.
O primeiro, determinante, é o da agricultura de extensão – das monoculturas cultivadas no latifúndio submetido ao regime das sesmarias, sob domínio da coroa portuguesa e posteriormente transferido à propriedade civil, regulado por um sistema de registros cartoriais. Este setor é responsável por quase a metade das exportações brasileiras, supera em 20% a participação no PIB e responde pela maior parte do fornecimento de proteína animal e vegetal, dentre os demais produtores mundiais.
É na agropecuária de extensão que se encontra a produção de gado, soja, milho, cana de açúcar, café, fumo, cebola, batata e laranja[1]. Também a silvicultura se enquadra neste mesmo fenômeno, respondendo por quase 40% da produção de celulose do mundo[2].
O segundo é o extrativismo, uma cultura arraigada desde o período pré-colonial, com os índios, e praticada pelos conquistadores mercantilistas, avançando com a colonização, com as entradas e bandeiras em busca da madeira, do ouro e pedras preciosas, nas regiões nordeste, sudeste, centro-oeste e, com crescente intensidade, na região norte, intensificando-se em escala industrial e por ciclos, abrangendo, além da madeira, o cacau, a borracha a castanha, além da extração mineral do ouro, ferro, prata, bauxita, manganês, nióbio, etc. Também inclui a pesca extrativista, praticada de forma rudimentar pelos índios, caboclos e caiçaras e, depois, de forma predatória nos rios e litoral.
O terceiro, vinculado à crescente urbanização, é a atividade hortifrutigranjeira, exercida a partir das pequenas e médias propriedades, visando o abastecimento das populações. Neste setor concentram-se as propriedades familiares – pequenos e médios agricultores, responsáveis hoje por 70% dos alimentos consumidos no Brasil, abastecendo o mercado com mandioca (87%), feijão (70%), carne suína (59%), leite (58%), carne de aves (50%) e milho (46%), entre outros produtos.[3]
No Brasil, parcelas significativas de imóveis com menos de cem hectares vêm obtendo rendas mais altas do que várias grandes propriedades, especialmente os que possuem bom acesso à água e produzem frutas, hortaliças e pequenos animais. A técnica hidropônica tem multiplicado a produção nas pequenas propriedades, da mesma forma que o avanço das técnicas de confinamento nas granjas amplia a produção de proteína animal.
O fato é que a agricultura brasileira sofreu enorme incremento, cresceu, transformou-se e se intensificou. Entre tragédias e méritos, trata-se de uma experiência histórica única.
Na conjunção de traços comportamentais, fatores econômicos e sociais, pode-se dizer que residem na agricultura as mais nobres características do povo brasileiro: a força, a determinação e a resiliência.
A agricultura nacional venceu a muralha do atlântico, as selvas intransponíveis, os acidentados planaltos meridional e central, os enormes e indomáveis cursos d’água, as áreas inundadas, a falta d’água, as condições climáticas e geológicas adversas. Enfrentou e ainda enfrenta os entraves criados pela mais estúpida burocracia do globo terrestre, as adversidades do mercado dominado por gigantes corporativos, mecanismos financeiros perversos e a ação política de organizações internacionais interessadas em relativizar a soberania do país.
É notória a capacidade de extrair da terra volumes impressionantes de alimentos e insumos – produtos que abastecem o mundo todo e representam a maior fonte de divisas do Brasil.
4. O paradoxo cognitivo do Estado brasileiro
Essa história de sucesso da agricultura brasileira nunca foi devidamente acompanhada e tutelada, na mesma dinâmica, pela estrutura legal brasileira.
Isso se deve a um paradoxo cognitivo de governança do Estado, que gerou e ainda gera impressionante confusão interdisciplinar na implementação das normas civis e de controle ambiental territorial, aplicáveis à agricultura.
O paradoxo cognitivo do Estado brasileiro tem natureza histórica, e desenvolveu-se de forma similar ao paradoxo malthusiano, guardadas as necessárias adaptações:
Segundo o professor Carlos Nepomuceno:
“um dado ambiente cognitivo se estabelece para lidar com uma dada complexidade que aumenta geometricamente, enquanto a capacidade de gerir aumenta aritmeticamente, levando ao ambiente ou toda a sociedade a uma crise de governança.
Para que a crise seja superada é preciso uma nova tecnologia cognitiva que possa superar a limitação do ambiente cognitivo anterior, criando uma nova governança para lidar com uma complexidade muito maior.” [4]
A origem do problema está no modo de produção mercantilista, sesmarial, implantado pela metrópole portuguesa em uma colônia de dimensões continentais, com biomas tão variados como vastos, sem possibilidade material de controle administrativo, dado as distâncias e geomorfologias, gerando uma cultura burocrática insegura, centralizadora, restritiva, notoriamente corrompida e caricaturalmente cartorial.
O mundo mudou. Mas a forma de ver a produção continua igual no Estado brasileiro. Assim, ignorando todas as transformações desenvolvidas em escala geométrica no modo de produção agrícola, o Poder Público tupiniquim, aritmeticamente, continua a associar a pujança econômica da agricultura com a estratificação sesmarial oriunda da antiga colônia. Ainda vincula as práticas de monocultura intensiva atuais à atividade agrícola latifundiária extensiva dos séculos anteriores ao Estatuto da Terra.
A burocracia de Estado ainda não assimilou o significado econômico de função social da propriedade. Encontra enorme dificuldade de superar estigmas, preconceitos e vícios ideológicos adquiridos em quatrocentos anos de regime de concessão de terras por meio de sesmarias, cem anos de implementação disfuncional do conceito registrário, improdutivo e civilista de propriedade e cinquenta anos de conflitos obstrutivos à implementação do direito agrário.
Passado o regime imperial e seis repúblicas, o Estado ainda não assimilou o caráter dicotômico público-privado do direito agrário, a visão empresarial aplicada à atividade agrícola, o real sentido da posse efetiva como afirmação de domínio, o planejamento territorial como fio condutor da produção e o ambiente de regulação da complexa economia rural.
Também não obteve êxito em compreender que a transferência de atribuições, de conservação florestal à propriedade privada, implica em conferir funcionalidades econômicas que tornem o controle ambientalmente sustentável.
Essa dificuldade se reflete na implementação inadequada do direito agrário como instituto regulador da produção no campo – mesmo após meio século de vigência da disciplina na esfera constitucional. Também se reflete na inabilidade do Poder Público resolver conflitos ambientais e entender a norma florestal como elemento de suporte à atividade econômica, não como obstáculo à esta.
Importa, portanto, fazermos aqui um resgate da história de ambos os direitos.
5. O Regime das Sesmarias
A origem de nossa estrutura fundiária é a concessão.
A propriedade no Brasil nasceu pública, vinculada à coroa, que concedia e regulava o uso da terra. Tão somente esse aspecto já levaria à compreensão do porquê dos conflitos de posse e da fragilização do direito de propriedade em nosso país.
Em 1530, quando os portugueses iniciaram a colonização, implementaram a ocupação territorial com a concessão de propriedades rurais destinadas ao “plantation”, monoculturas extensivas baseadas no trabalho escravo. O regime aplicado foi o de sesmarias.
A sesmaria, no contexto histórico, era um sistema de governança territorial antigo, porém sofisticado. Guardadas as devidas proporções, face ao modo de produção feudal ocorrente na Europa, o regime de sesmaria expressava uma “parceria público-privada”, isso em plena idade média.
O sistema tinha origem na vetusta lei romana. Derivava da enfiteuse – contrato pelo qual o proprietário permanece titular do domínio direto, mas cede a terceiro o seu domínio útil, permitindo ao foreiro implantar benfeitorias segundo determinadas condições e uma contribuição periódica. Resolvido o contrato, o domínio pleno, com as benfeitorias, retorna ao proprietário direto.
Portugal praticava esse sistema de concessão enfitêutica desde antes de organizar-se em Estado. Era decidida a concessão pelo conselho de aldeões das comunidades organizado em Câmara. Essa modalidade de macro ocupação era praticada nas cidades e no campo.
Em 1375, a prática foi aproveitada ao regime das sesmarias e instituída por lei pelo Estado Monárquico absolutista Português.
O Estado Português, recém-formado, cosmopolita e voltado para a expansão mercantil, havia saído de uma intensa batalha de retomada territorial aos mouros muçulmanos. Precisava reocupar o território reconquistado com seus patrícios e o fez mantendo a forma de organização territorial herdada do império romano. Negou-se a seguir o sistema feudal bárbaro, então vigorante na Europa.
Sob a batuta de Dom Fernando I, a coroa portuguesa atropelou sua nobreza e decidiu conceder a empreendedores particulares a produção agrícola em suas terras, formando uma poderosa burguesia e abrindo caminho para a mercantilização da economia.
Informa a professora Mônica Diniz que:
“Antigo costume da região da Península Ibérica, as terras eram lavradas nas comunidades, divididas de acordo com o número de munícipes e sorteadas entre eles, a fim de serem cultivadas.
Cada uma das partes da área dividida levava o nome de sesmo. O vocábulo sesmaria derivou-se do termo sesma, e significava 1/6 do valor estipulado para o terreno. Sesmo ou sesma também procedia do verbo sesmar (avaliar, estimar, calcular) ou, ainda, poderia significar um território que era repartido em seis lotes, nos quais, durante seis dias da semana, exceto no domingo, trabalhariam seis sesmeiros.
As sesmarias eram terrenos incultos e abandonados, entregues pela Monarquia portuguesa, desde o século XII, às pessoas que se comprometiam a colonizá-los dentro de um prazo previamente estabelecido.
A doação dessas terras encontrava motivo na necessidade que o governo lusitano tinha de povoar os muitos territórios retomados dos muçulmanos no período conhecido como Reconquista. Essa expulsão dos árabes pelos cristãos iniciou-se no século XI e terminou por volta do século XV.” [5]
A Coroa sozinha não poderia organizar a produção de alimentos para combater a crise agrícola e econômica que já devastava toda a Europa. Essa crise era agravada pela epidemia da peste negra. Também, como visto, não tinha como assenhorar-se das terras tomadas aos muçulmanos, expulsos da península após cruenta guerra. Assim, o rei implementou o sistema de natureza pública, de concessão de terras, reocupando o território português e expandindo-o pelas colônias.
A terra de Portugal era parte do patrimônio pessoal do Rei, que condicionava sua doação à condição de nela haver produção.
Por meio do arbitrium real – o Rei avaliava os candidatos considerando seu status social, qualidades pessoais e serviços prestados à Coroa. Como não poderia, por óbvio, fazê-lo pessoalmente, o Rei nomeava os Capitães Donatários como sesmeiros – encarregados de distribuir as sesmarias e observar o cumprimento das condições da doação, sob pena de devolução da propriedade à coroa.
Com esse regime, a Coroa reocupou a península, iniciou o regime colonial na ilha da Madeira, nos Açores, contornou a costa africana e ocupou as “Terras de Santa Cruz”, em 1530, décadas após sua descoberta por Cabral.
6. A disfunção das sesmarias brasileiras na origem do conflito
O regime de Sesmarias implantado no Brasil ganhou, porém, características próprias que afetaram sua funcionalidade.
Primeiro, “nas terras de Santa Cruz, não existiam propriedades abandonadas a serem reocupadas, mas, sim, terras virgens para serem conquistadas e aproveitadas. Com isso, juridicamente, não ocorriam “sesmarias, e sim datas e concessões.”[6]
Segundo, e por orientação de Martin Affonso de Souza, entre outras coisas, a cessão tornava-se perpétua e, portanto, sujeitava a sesmaria à compra, venda e sucessão. Essa característica distorceu sobremaneira o sentido de “vitalício” da sesmaria portuguesa – permitindo o surgimento de propriedades híbridas, de dimensões impensáveis no pulverizado sistema de controle territorial português.
Dessa forma as sesmarias cresceram mais por aquisição de outras glebas obtidas por doação, compra ou herança, que pela doação direta da Coroa.
A própria Coroa, por interesse estratégico e militar, passou incrementar a autoestimulada concentração de terras, agravando a concentração fundiária.
O fenômeno ocasionou a redefinição terminológica no mercado de glebas organizado entre os próprios donatários e sucessores, passando o termo sesmeiro a ser aplicado ao beneficiário da doação e não mais ao detentor do poder real para distribuir terras de sesmaria.
As distorções em escala continental impostas ao instituto das sesmarias gerou outro paradoxo: inoculou no sistema fundiário tupiniquim justamente o que a Coroa portuguesa procurava evitar: uma cultura feudal.
A respeito, lecionou Waldemar Ferreira que:
“Dessa forma, o Estado e a propriedade se estruturavam dentro da filosofia que dominava o regime feudal (ou semifeudal, como querem alguns), ou seja, enormes extensões de terra sob o mando e poder de senhores com autoridade absoluta sobre as pessoas e cousas. Homens que detinham o poder econômico representado pela terra – ‘vastas extensões’ (como mencionaria um alvará real, um século após), pelos bens de capitais empatados em engenhos de açúcar e escravos, e na sujeição dos agricultores, agregados e assalariados mais categorizados (técnicos de engenho).” [7]
A feudalização do solo rural e a expansão desmedida dos latifúndios, geraram conflitos crônicos de descontrole territorial e posse, que podem ser resumidos na parábola de Domingos Afonso Sertão – desbravador da área desabitada do interior do nordeste brasileiro, da Bahia ao Piauí (daí o termo “sertanus“, que significa área deserta ou desabitada).
Conta Barbosa Lima Sobrinho[8] que Domingos Afonso, nascido Mafrense, veio para o Brasil com seu irmão Julião Afonso Serra por volta de 1670, obtendo várias sesmarias no sul da Bahia, como rendeiro da família dos Ávilas, e devassando todo o sertão a oeste do rio São Francisco.
Estabelecido em uma Fazenda que denominou Sobrado, a 40 léguas ao sul de Juazeiro, Domingos Sertão seguiu desbravando terras até o Piauí, onde encontrou o bandeirante Domingos Jorge Velho, que reivindicava terras junto à Coroa após desbaratar o Quilombo de Zumbi.
Relata Fernando Sodero:
“Domingos Afonso e seus companheiros entraram então a devassar o rio Piauí e o rio Canindé, indo até o rio Parnaíba e sertões do Ceará. Nessas terras fundou mais de 30 fazendas ou currais de criar gado, obtendo sesmarias nas margens do rio Gurgueia em 1676, no rio Tranqueira em 1681 e 1684, no rio Parnaíba em 1686, com cartas de sesmarias da capitania de Pernambuco.
A reação oficial da Coroa Portuguesa às disfunções ocorrentes nas sesmarias brasileiras veio por via de Cartas Régias, as quais podem ser consideradas precursoras do direito agrário no Brasil. A Carta Régia de 27 de dezembro de 1695 passava a limitar o tamanho das sesmarias a quatro léguas de comprimento por uma de largura. Esse “módulo” foi em seguida reduzido a uma área de três léguas por uma. Em 4 de novembro de 1698, sobreveio nova Carta Régia, instituindo um procedimento de “confirmação” da sesmaria – um ato de regulação administrativa de conferência da demarcação e do uso da terra. Em 3 de março de 1704, outra Carta Régia instituiu a “demarcação judicial”, criando, assim, um quadro de medidas legais que em tese evitariam a “concentração de poder econômico e da grande propriedade nas mãos de poucos”[9].
Domingos Sertão morreu sem deixar herdeiros. Após sua morte as terras passaram às mãos dos padres da Companhia de Jesus, que as administraram com relativo sucesso e contribuíram para o desenvolvimento da pecuária do Piauí, que no século XVIII abastecia o Maranhão, todo o nordeste e algumas províncias do sul do Brasil.
Em 1760, após a expulsão dos jesuítas, as fazendas passaram ao patrimônio da Coroa portuguesa com o nome de Fazenda Real Fisco e entraram em decadência. Daí a origem do território chamado “Sertão Nordestino” e, também, a origem dos conflitos fundiários de posse e grilagem, decorrentes do abandono das terras devolutas, não só as de Domingos Sertão, como de milhares de outros sesmeiros…
A distribuição de terras pelo regime de sesmarias perdurou por todo o período colonial, sob a batuta do regime de oligopólio da coroa portuguesa, que também impunha a ignorância como regra em terras brasileiras.
Para se ter uma ideia do regime de ignorância e analfabetismo imposto oficialmente, a imprensa era proibida, bem como a importação de papel, telas e edição de livros. A população sofria absoluta censura de informações e era quase na sua totalidade, analfabeta.
A incultura, analfabetismo funcional, a rejeição ao conhecimento, o desprezo á leitura, a ignorância e a consequente brutalidade no exercício de convicções toscas, tão bem relatadas e apresentadas com exemplos significativos por Gilberto Freyre em sua obra “Casa Grande e Senzala”, compõem, sem dúvida, a desoladora paisagem humana do sistema sesmarial da colônia brasileira – e marcam nosso caráter antropológico qual uma dura cicatriz.
7. O flagelo da escravidão e os quilombos na origem do conflito fundiário
Há, ainda, um aspecto grave e solenemente ignorado na origem da crise fundiária brasileira. O advento de milhões de escravos importados da África, em condições subumanas e, posteriormente, deixados à própria sorte, ocupando erraticamente o território.
O regime de escravidão introduziu no território brasileiro milhões de negros africanos, submetidos a condições de extrema crueldade.
Aos escravos, no Brasil, não era permitido manter a dignidade, a personalidade e mesmo a afetividade.
Ao contrário do plantation americano, que permitia a unidade familiar entre os escravos, ou do sistema de trabalho compulsório espanhol, que arregimentava os nativos homens mas não os retirava das aldeias, o sistema brasileiro negava ao escravo desenvolver família. Casais eram separados, os filhos vendidos.
Comprados e vendidos como semoventes, por regime escritural, os negros africanos fugidos ou alforriados terminavam se refugiando nos mocambos e reconstituindo sua unidade cultural nos quilombos – terras em que desenvolviam agricultura e mantinham regime comunal.
O quilombo, portanto, era uma unidade comunal construída no Brasil pelos que buscavam a liberdade e, por três séculos, substituiu a família que era negada aos negros.
Antropologicamente, o quilombo substituiu a estrutura familiar do africano no organismo social da sociedade escravagista colonial. O senso de irmandade, de unidade, de proteção familiar e de acumulação de capital, para o negro africano, teve o quilombo como única via.
O quilombo, por outro lado, não seguia obviamente o regime sesmarial ou patrimonial europeu, era uma forma livre de assentamento rural. Produzia e agregava população em vilas chamadas mocambos.
No século XVII, o fenômeno já era algo emblemático, ganhando a atenção da Coroa portuguesa, em especial, o crescimento exponencial do Quilombo dos Palmares, administrado por Ganga Zumba.
Originado na primeira metade do século XVII, o Quilombo dos Palmares, também chamado de Janga Angolana, chegou a concentrar mais de trinta mocambos.
O quilombo prosperou em grande parte por conta do vácuo de controle territorial da metrópole de Portugal, submetida no mesmo período ao domínio espanhol e obstruída no exercício de seu domínio pelos franceses, no século XVI e início do século XVII e, depois, pelos holandeses, até 1749.
Era liderado por um congolês de origem nobre, Ganga Zumba, que presidia o conselho de chefes dos mocambos e tinha o tratamento de Rei. Havia ainda outros nove assentamentos, comandados pelos filhos e sobrinhos de Ganga Zumba, dentre eles, Zumbi e seu irmão Andalaquiutuche.
Habilíssimo líder, Ganga Zumba recebia o respeito de um Monarca e as honras de um Lorde, inclusive pelas autoridades portuguesas.
Por volta de 1670, Ganga Zumba tinha um palácio, três esposas, guardas, ministros e súditos devotos no “castelo” real chamado “Macaco” – em homenagem ao animal que havia sido morto no local. O complexo do castelo era formado por 1.500 casas que abrigavam sua família, guardas e oficiais que faziam parte de nobreza.
Temendo, no entanto, o crescente poder da organização de assentados, e percebendo o efeito replicante do fenômeno, o governo de Pernambuco resolveu reprimir o Quilombo em 1677, em batalha sangrenta mas infrutífera.
Mudando sua estratégia, no ano de 1678, o Reino de Portugal, representado pelo Governador Pedro de Almeida, resolveu propor um tratado de paz a Ganga Zumba, que incluía inclusive a cessão de terras no Vale do Cucaú.[10]
Embora tenha o Rei Ganga Zumba assentido com o acordo e iniciado o seu cumprimento, Zumbi e seus seguidores contra ele se rebelaram.
Ganga Zumba foi envenenado e Zumbi assumiu o Quilombo, desafiando o acordo e o Reino de Portugal.
Iniciou-se então um longo período de embates sangrentos. O Quilombo dos Palmares, no entanto, resistiu por mais dezoito anos, somente vindo a ser debelado pelo bandeirante português Domingos Jorge Velho e seus mercenários, em 1695, contratados a peso de ouro e cessão de terras pelo Reino de Portugal.
A história econômica brasileira ainda nos deve uma análise acurada da externalidade do regime de escravidão, gerada pelos seres humanos que saiam do regime de servidão para buscar um trabalho subalterno nas cidades ou ocupar assentamentos quilombolas no campo. Por óbvio que essa migração agravou o regime de posse das terras, fato solenemente ignorado pelo Estado colonial e pelos governos nos períodos imperial e republicano.
Os assentamentos quilombolas foram e ainda são solenemente ignorados pelos estudiosos e pelas autoridades fundiárias brasileiras. Porém, constituem um aspecto material importante da história agrária, por externarem a crise fundiária nacional.
Da mesma forma os mocambos, elementos orgânicos essenciais da estrutura quilombola, que transferiram-se para as cidades, formando parte integrante da urbanização brasileira nos séculos XIX e XX, quando foram degradados, enquanto estrutura social, pela favelização.
Os quilombos foram estruturados nos moldes angolanos. Ocorriam em terras altas ou de difícil acesso, no interior do Brasil. Pululavam no Nordeste, em especial na próspera capitania de Pernambuco. Na medida em que se tornavam populosos, eram tratados por mocambos.
Chegaram a ocupar uma grande parcela da área cultivada no território colonial e imperial.
O professor Alfredo Wagner Almeida, em sua obra “Os Quilombos e as Novas Etnias”, aponta a formação de quilombos não apenas à fuga da escravidão, mas em grande parte relacionados à desapropriação de terras dos jesuítas, à doação de terras efetuadas por sesmeiros (como recompensa por serviços prestados a grandes proprietários), à ocupação pura e simples decorrente do declínio dos sistemas açucareiro e algodoeiro e ao abandono de engenhos, entre vários outros exemplos.
No caso específico do período de enfraquecimento e decadência das grandes propriedades de plantação de cana-de-açúcar e de algodão, a autonomia interna dos escravos na fazenda, em virtude da ausência de coerção por parte dos proprietários, também favoreceu formações quilombolas:
“nesse quadro, o processo de acamponesamento ou de formação de uma camada de pequenos produtores familiares tende a se expandir e consolidar”, (…) “é como se o quilombo tivesse sido trazido para dentro da Casa-grande ou mesmo aquilombado a Casagrande”.[11]
É conhecido o caso do Quilombo Frechal, no Maranhão, que era localizado a 100 metros da Casagrande.
Não se tratava, portanto, o quilombismo, de fenômeno ocasional, excepcional ou sem significância.
O assunto não é uma questão “antropológica” – como costuma ser tratado pelos racialistas na academia brasileira, mas, sim, um fenômeno social e agrário, típico do descompasso fundiário existente no país.
Como já dito, esse fenômeno também se relaciona com a assimetria fundiária urbana. Mocambos erigidos nos centros urbanos, resultaram nas favelas, que hoje abrigam milhões de brasileiros irregularmente assentados. O curioso é que as favelas ocorreram pelo combate higienista – a partir do controle sanitário, no Rio de Janeiro e Recife, com a destruição forçada dos cortiços nas regiões centrais dessas cidades, obrigando seus moradores a buscar refúgio nas áreas dos mocambos, nos mangues e morros, áreas que o Estado, hoje, desconhecendo a geografia humana e se apegando a valores abstratos, insiste em definir como áreas de risco e de proteção florestal (encostas de morro, fundos de vale, etc…), igualmente pretendendo expulsar, dali, os acuados moradores…
Essa concentração urbana, portanto, deveu-se e ainda se deve à profunda segregação social infringida pelo próprio Estado brasileiro, em especial aos negros africanos e afrodescendentes.
Há outra condicionante, de ordem econômica, que originou a assimetria até hoje sentida no modo de acumulação de capital entre afrodescendentes e eurodescendentes. Como se sabe, a família constitui a célula mater da sociedade e, também a primeira fonte de acumulação do capital. Sem a família não há funcionalidade no acúmulo de bens para futura transmissão aos sucessores.
No entanto, como já dito, a instituição da família foi negada aos negros africanos aportados como escravos no Brasil.
Essa diferença faz toda a diferença. Mas a segrefação foi ainda mais perversa no campo estritamente fundiário.
Em 1850, ano em que foi editada a Lei de Terras, o Brasil foi demandado a promover profunda modificação estrutural em seu regime fundiário, caso contrário não receberia o necessário aporte de imigrantes e recursos internacionais para otimizar a produção de café, ficando, assim, privado de desenvolver o sistema de suporte à nova forma de comércio e exportação nos moldes capitalistas.
Sofria, também, o governo imperial, com a pressão internacional para abolição do tráfico negreiro, que tratou de fazer cessar somente neste mesmo ano de 1850 – não sem antes resistir por dez anos, tempo suficiente para promover no período, a chegada às terras brasileiras mais um milhão de escravos. O Brasil começava a intensificar sua exportação de commodities importantes – não só o café e o açúcar, mas, também, o minério de ferro e a borracha, essenciais à segunda revolução industrial que se iniciava na segunda metade do século XIX.
Com o novo regime de terras particulares, o país acenava para nova forma de assentamento dos estrangeiros e suas famílias. Assim, por conta da imigração, o regime da propriedade privada foi oficialmente instituído no Brasil.
O capitalismo, no entanto, não chegou aos negros.
Embora o país buscasse introduzir um regime de propriedade privada, estimular a livre iniciativa e instituir a livre contratação de mão de obra, continuava negando liberdade aos escravos, mantendo parte do seu regime econômico em bases mercantilistas, como se ainda estivesse engatinhando no regime colonial.
Vinte e um anos após estabelecido o regime de terras privadas e sancionada a política de imigração, foi sancionada a lei do ventre livre, que estabelecia que o filho do negro nasceria livre – mas os pais continuariam escravos.[12]
Mais de trinta anos depois da lei que instituiu a propriedade privada no Brasil rural, milhões de escravos viram-se livres… sem família, sem casa, sem terras, sem sobrenome, sem qualquer indenização ou subsídio para organizar sua vida, numa terra para qual foram trazidos ou cresceram acorrentados, sem direito a qualquer educação.
A desigualdade foi literalmente construída. É, portanto, estrutural. Do ponto de vista econômico e social, a organização dos afrodescendentes em unidades familiares remonta hoje, em pleno século XXI, se muito, à quarta geração – partida do nada.
Nunca houve qualquer lei que organizasse uma distribuição de terras ou conferisse indenização de qualquer espécie aos milhões de escravos libertos e deixados ao abandono. Pelo contrário, o governo brasileiro QUEIMOU todos os registros, impedindo até mesmo que os afrodescendentes pudessem conhecer sua origem.
Em meio a tamanha desproporção de tratamento, é criminoso comparar a economia da imigração estrangeira com a deseconomia da escravidão brasileira.
O destino dessa massa de desassistidos foi o refúgio em quilombos, mocambos e favelas – e, aos mais ousados, a ocupação de minifúndios pela posse. Essa impressionante discriminação fundiária racial se estendeu aos mamelucos, cafuzos, caboclos e caiçaras, envolvendo toda a população parda que, naturalmente, se encontra presente em todos os conflitos de terra existentes na história brasileira…
É preciso repassar a história no hiato entre o regime de sesmarias e o sistema de propriedades particulares hoje em vigor, para compreender a dimensão da questão racial no Brasil.
8. A Lei Civil Tutela a Posse da Terra
A transformação do regime fundiário e econômico brasileiro, no entanto, não se resolveu pela letra fria da lei, e nem as alterações legais se deram pacificamente, ela ocorreu após décadas de conflitos e hesitações.
No final do Século XVIII, nos estertores do regime colonial, os conflitos de posse e a concentração fundiária haviam se agravado profundamente. Esse período foi marcado por grandes transformações políticas e econômicas na Europa, graves crises de desabastecimento e conflitos sucessórios na península ibérica.
No Brasil, as safras recordes de cana de açúcar e a extração do ouro contrastavam com a crise econômica europeia, originando conflitos perturbadores, como foi o caso da inconfidência mineira.
Alarmada com as disfunções fundiárias no Brasil, com o volume de produção obtido à custa da destruição do patrimônio florestal e a grilagem instituída pelo sistema de compadrio acobertada na capital da colônia, D. Maria I, Rainha de Portugal, baixou o Alvará Real de 5 de outubro de 1795, denominado “Lei das Sesmarias” – dirigido ao regime fundiário no Brasil.
O diploma legal pode ser considerado um marco precursor do Direito Agrário no Brasil.
No entanto, a reação à alteração do sistema agrário, tal qual ocorre hoje com o atual Estatuto da Terra, foi muito forte. O diploma colonial editado pela rainha foi vítima de enormes pressões contrárias, que praticamente o desfizeram.
Conta Fernando Sodero:
“Especialmente elaborado para o Brasil, tinha por finalidade regularizar as graves questões de propriedade de terra, coibindo ‘os abusos, irregularidades e desordens que têm grassado, estão e vão grassando em todo o Estado do Brasil, sobre o melindroso objeto das sesmarias…’, segundo a redação pitoresca do seu texto.
Os 29 artigos que o compunham, disciplinavam que as sesmarias a serem concedidas, deviam ser medidas dentro do prazo de um ano e as de concessão anterior, demarcadas dentro de dois anos; reduzia para meia légua em quadra as existentes nas imediações dos grandes povoados. Instituiu a Lei dois registros de sesmarias, o primeiro, a cargo das Câmaras Municipais, reservado para estas, o das situadas dentro dos termos. Simplificou os processos de normalização das sesmarias e estabeleceu doação às Câmaras, de uma área de quatro léguas, para eu administrassem e tirassem rendas de fôro.”[13]
A lei não foi executada. Pelo contrário, viu-se suspensa indeterminadamente, tamanho o volume de interesses que contrariava.
No século XIX, após o retorno da família real portuguesa a Portugal, o caótico sistema fundiário brasileiro voltou à pauta dos debates.
O conselheiro do Príncipe Regente Dom Pedro, José Bonifácio, chegou a sugerir ainda em 1821, o retorno radical da vigência das Ordenações, para expropriar dos sesmeiros as propriedades improdutivas, resgatando o sentido original do regime de uso da terra nos moldes do estabelecido por Dom Fernando I no Século XIV – permitindo, assim, ao Reino do Brasil iniciar uma ampla redistribuição de terras[14].
Como não obteve eco (pelo contrário, ergueu-se uma enorme barreira às suas pretensões), Bonifácio entendeu que o melhor seria criar um “hiato legal” sobre a questão, imaginando que a livre iniciativa resolveria a questão. Entendia que algo similar à “marcha para o oeste” iniciada nos Estados Unidos – com a compra dos estados da Luisiana aos franceses em 1803 e da Flórida aos espanhóis, em 1819, poderia ocorrer se a ausência de regras mobilizasse os brasileiros a buscar a internalização visando estabelecer em sua própria terra.
Assim, sobreveio a resolução de 17 de julho de 1822, suspendendo a concessão de sesmarias.
Mas a similitude com a “Marcha para o Oeste” termina aí. Não se permitiram novas concessões de sesmaria, nem se admitiram novas posses, porém seriam reconhecidas posses ocorridas antes da resolução.
Porém, não havia um regime civil de propriedade rural, nem tradição de livre iniciativa que não fosse a da grilagem. Assim, a expansão da apropriação da terra por quem nela queria trabalhar, sonhada por Bonifácio, foi substituída pelo pesadelo da maior concentração de terras por quem já mantinha extensos domínios.
A “corrida para todos os lados” brasileira, transformou-se na fase áurea da grilagem de da concentração semifeudal de terras em mãos de poucos e sanguinários latifundiários.
Deixado no abandono, após a independência, o sistema fundiário não se alterou formalmente – simplesmente estancou e mergulhou na obscuridade por trinta anos. Entre 1822 e 1850, “a posse se tornou a única forma de aquisição de domínio sobre as terras, ainda que apenas de fato, e é por isso que na história da apropriação territorial esse período ficou conhecido como a ‘fase áurea do posseiro’”[15].
A omissão do Estado, resultou no fortalecimento da concentração econômica. Afinal, “onde há fracos e fortes, a liberdade escraviza”, como lecionava o Professor Goffredo da Silva Teles Jr. em suas aulas na Faculdade de Direito da USP.
O conflito, como já dito, só veio a ser tutelado trinta anos mais tarde, pela lei de Terra, de 1850 – Lei de número 601, promulgada em 18 de setembro de 1850, que dispôs sobre as terras devolutas do Império e acerca das que são possuídas por titulo de sesmaria sem preenchimento das condições legais.
A lei se fez sob inspiração de Bonifácio e Feijó, e com a iluminação de Dom Pedro II – de olho na necessária modernização da agricultura face à industrialização… e pressionado pelo capital internacional. Ela tramitou no parlamento do Império por oito anos e é considerada por muitos um marco precursor do direito agrário expresso no Estatuto da Terra, de 1964 – cem anos depois.
Não houve coincidência. Como já dito, a Lei de Terra surge no mesmo ano da Lei Eusébio de Queirós, que determinava a proibição do tráfico de escravos em território brasileiro – mas não os libertava.
A Lei de Terra, teve efeito disruptivo – pois o Estado concedeu aos particulares que exerciam posse ativa das terras um título de propriedade, encerrando seu domínio sesmarial sobre elas e inaugurando a propriedade privada rural no Brasil, e, implementada concomitantemente com a forte imigração estrangeira, conformou uma verdadeira neocolonização, executada pelos novos imigrantes – com enorme alteração do desenho socioeconômico nas cidades e na sua forma de abastecimento pelo campo.
A substituição da mão de obra escrava pela mão de obra assalariada inaugurou a industrialização agrícola dos latifúndios, com a nova tecnologia do plantio, colheita, torrefação e comércio do café. O sistema contrastava com a estrutura senhorial em franca decadência, expressa nas culturas de cana, tabaco e algodão, ocorridas no norte e nordeste.
A dinamização alterou o mundo dos contratos e das relações comerciais. Não por outro motivo, ocorre também a promulgação do Código Comercial, estabelecendo os critérios de contratação e circulação de mercadorias, os títulos, a organização das empresas e das sociedades comerciais. Têm-se, assim, que os três marcos legais entronizaram no Brasil o Capitalismo – mas mantiveram a chaga mercantilista e vergonhosa da escravidão.
Vistos conjuntamente, os marcos legais conferiram “valor” à terra, à mão de obra e ao comércio das commodities, incentivando a produção.
Dessa forma, a Lei 601 de 1850 foi o primeiro marco legal disciplinador da propriedade privada no Brasil e repaginou o significado da terra, retirando-lhe o status social derivado da simples posse para torná-la um bem comercial imobiliário, fonte de lucro e componente da produção.
A lei condicionou a aquisição de terras públicas por particulares à venda e compra, descartando a posse e a cessão por doação. Estabeleceu o registro e a demarcação. Criou o imposto sobre a propriedade. O tributo financiou a política de imigração e assentamento dos imigrantes, essencial para a emergente cultura do café na região sudeste.
Paradoxalmente, a lei reforçou a segregação social em relação aos posseiros nativos.
A pretexto de garantir o direito de propriedade a quem nela produzia, o novo regime legal dificultou sobremaneira a aquisição do domínio de terras para quem não estivesse engajado na produção agrícola para exportação – ou seja, acenou com a possibilidade de assentar os mais pobres, mas negou-lhes materialmente esse direito pelos critérios de elegibilidade e, principalmente pela elevação imediata e aguda do valor da terra. Aos pequenos sitiantes, restou a contratação como colonos, à margem do regime jurídico.
Se com os posseiros nativos e pobres, o regime fundiário foi injusto, para os milhões de negros escravizados e libertos, permaneceu uma miragem.
Para o nascente capital e para os investidores estrangeiros, no entanto, os efeitos da nova legislação foram imediatos. Ao par de favorecer a economia cafeeira e aumentar os investimentos, o diploma consolidou a emergente oligarquia paulista e ampliou o poder dos latifundiários, permitindo-lhes registrar legalmente e adquirir formalmente as propriedades.
Instituída a propriedade privada como base da livre iniciativa, afluíram os investimentos em novas atividades econômicas (bancos, ferrovias, indústrias etc.), contribuindo para uma adaptação mais razoável da sociedade brasileira às exigências do capitalismo.
A legislação alterou, também, o sentido de terras devolutas, compreendendo como tais todas as que não estavam sob os cuidados do poder público em todas as suas instâncias (nacional, provincial ou municipal) e aquelas que não pertenciam a nenhum particular, sejam estas concedidas por sesmarias ou ocupadas por posse.
As imprecisões materiais, no entanto, não foram resolvidas com o registro episcopal, nem com a cessão de domínios. A posse – ignorada pelo grande latifundiário foi, repita-se, transformada em um “regime de posse” – em verdade uma muralha burocrática. Essas disfunções começaram a ser equacionadas com a Consolidação das Leis Civis – organizada pelo grande jurista Teixeira de Freitas, aprovada pelo parlamento e sancionada pelo Imperador Pedro II em 1876.
O sistema agrário começava a se desenhar na exigência do reconhecimento da posse, na sua forma capitalista. Seriam pelo regime da nova legislação, regularizadas todas as terras cultivadas ou com algum princípio de cultura e que constituíssem a morada habitual do posseiro. Era também necessário demarcar e medir a posse, em prazo a ser fixado. No caso de não cumprimento dessas determinações, a legitimação da posse não seria efetuada.
O posseiro apenas recebia o título da posse, porém não se tornava o proprietário. Se houvesse posses localizadas no interior ou nas limitações de alguma antiga sesmaria, seria reconhecido como proprietário aquele que realizou as benfeitorias, não valendo como prova “os simples roçados, queimas de mato ou campos, levantamento de ranchos ou outros atos de semelhante natureza”[16].
O regime vigorou sem alterações até o advento da República, e permaneceu após, pois a Constituição Republicana de 1891, a pretexto de melhorar o controle do regime de terras devolutas e a regulação do domínio, transferiu a balbúrdia burocrática para os estados federados.
Isso permitiu a alguns estados, no entanto, em especial os estados do sul do país, formularem pequenas reformas e regularização de assentamentos. No restante, o regime de coronelismo terminou agravado.
9. Perenização do injusto sistema fundiário nacional
Assim, que fique claro: em quinhentos anos de história, o Brasil vive pouco mais de cento e cinquenta anos no regime da propriedade privada.
A Consolidação das Leis Civis, no final do século XIX, e o Código Civil Brasileiro, sancionado em 1916, reconfiguraram o ambiente fundiário e o sistema registral, disciplinando os contratos rurais e o regime das propriedades.
Com a sucessão de crises provenientes da transformação do ambiente econômico internacional e seus reflexos no Brasil, o regime de sucessão e a crise da bolsa em 1929, praticamente pulverizaram uma série de propriedades nos estados que mais produziam, sem, no entanto, alterar a secular desproporção entre latifúndios e minifúndios.
O país sofreu forte transformação econômica com a industrialização. Com ela as pequenas propriedades passaram a ser demandadas não mais para o cultivo de subsistência, mas, sim, para abastecer a nova demanda hortifrutigranjeira de uma população que em ritmo acelerado se concentrava nas cidades.
Enquanto a grande porcentagem de terras em mãos de poucos, gerava commodities para exportação, uma pequeníssima porcentagem de terras, distribuídas para uma grande maioria de pequenos proprietários, produzia a maior parte dos alimentos consumidos pelas cidades no Brasil – proporções que se mantém até o presente momento.
A demanda por carvão e madeira, por outro lado, cresce exponencialmente com o surgimento da metalurgia e, posteriormente, da siderurgia. O abastecimento de carne também impõe nova demanda, interna e internacional.
As novas demandas acirram desproporções e, também, provocam uma nova escala predatória sobre o remanescente florestal.
Surgiu, então, a necessidade de uma nova lei federal, que sistematizasse a proteção florestal.
O direito florestal ressurge, assim, remodelado no Século XX, em 1934, quando instituído o primeiro Código. E um marco legal de natureza agrária começa a ser demandado, vindo a surgir trinta anos depois, em 1964, com o Estatuto da Terra.
No entanto, ambos os estatutos – em que pese vistos como ferramentas para implementar transformações no regime fundiário e de uso da terra, por conta dos paradoxos cognitivos analisados, terminaram por consolidar as assimetrias.A Lei Florestal não se libertou de seu caráter intervencionista, e oEstatuto da Terra, com seu caráter de regulação, pareceu estar muito adiante do seu tempo.
O caminho apontava, contudo, com todas as dificuldades, para uma conciliação e não mais para a intervenção.
10. O controle florestal sobre um sistema fundiário predador
Voltando às origens do direito florestal, é importante constatar a motivação econômica vinculada À necessidade de controle ambiental expressa estabelecida no berço da colonização do território brasileiro.
Foi por razões ambientais subalternas ao interesse econômico, que a coroa portuguesa resolveu ocupar o território de Vera Cruz, colonizando-o. E para tanto, instituindo o regime de exploração por sesmarias, em 1530.
Interessante observar que, nos trinta anos anteriores à ocupação, a partir do descobrimento, cientes da impressionante riqueza florestal, os portugueses trataram de conceder autorizações para exploração em grande escala da madeira – em especial o “pau brasil”, nas costas das terras novas de Santa Cruz, sob o regime de proteção florestal imposto pelas ordenações.
As demais potências mercantilistas também se interessavam pela mercadoria, sendo os franceses os primeiros a aportarem nas costas do Brasil, para extrair a madeira e traficá-la para a Europa.
O regime florestal das ordenações portuguesas já estabelecia o corte ilegal de árvores como crime de injúria ao rei, sendo que as penas se agravavam na medida em que determinadas espécies de madeira interessassem à coroa – as chamadas “madeiras de El Rey”, ou madeiras de lei.
Nas Ordenações Manuelinas de 1500, refletindo o espírito franciscano adotado pelo Rei venturoso, rezava a norma:
“O que cortar árvores de fructo, em qualquer parte que istiver, pagará a estimação della ao seu dono em tresdobro. E se o dano que assi fizer nas árvores for valia de quatro mil reis, será açoutado e degradado 4 annos para África. E se for valia de 30 cruzados, e dahi para cima, será degradado para sempre para o Brasil”. “E que pessoa alguma não corte, num mande cortar soveiro (árvore de cortiça), carvalho, encinho, machieiro (soveiro em crescimento), pôr o pé, nem mande fazer dele carvão nem cinza; nem escasque, nem mande escascar nem cenar lagumas das ditas árvores, desde onde entra o Rio Elga (…) e fazendo contrário va degradado quatro anos para África, 16 pague cem cruzados, e perca o carvão e cinza, a metade para quem o acusar e a outra para os captivos. E se for peão, além disso, seja açoutado. Porém os que tiverem sovereiros próprios os poderão cortar, não sendo para carvão ou cinza; e cortando-os, para isso, incorrerão em ditas penas.”
Pode-se dizer, assim, que o direito florestal foi a razão legal para a colonização do Brasil, pois foi justamente na busca de melhor proteção ambiental às florestas, face ao seu interesse econômico, que a Coroa de Portugal resolveu ocupar Vera Cruz, para não mais reservá-la para o degredo e o abandono.
As disfunções, por óbvio, também aqui desembarcaram. A ignorância (imposta por lei), a crueldade escravagista e o modo de produção oligopolizado, provocaram um desmatamento em larga escala, praticamente fazendo a Mata Atlântica desaparecer nas sesmarias do nordeste, ocupadas então em firmar o plantio da cana de açúcar – importada da Ásia e já utilizada experimentalmente no “laboratório” colonial da Ilha da Madeira (igualmente depredada…).
Embora se exigisse ao sesmeiro o atingimento de metas, a forma predatória e rudimentar do seu cultivo sempre resultava aquém do contratado – da mesma forma, o controle fundiário era precário, de tal forma que a produção foi aos poucos tornando-se uma tarefa rudimentar implementada por feitores e escravos, entremeados por posseiros, perturbados por grilagens.
O sistema era baseado na destruição do meio. A ação predatória, no entanto, preocupava a Coroa.
De fato, as Ordenações estabeleciam regras de proteção ambiental e recomendavam a preservação de áreas florestadas nas encostas de morro, fundos de vale e nascentes, incluso a destinação de sexta parte da sesmaria “ao arvoredo”, para preservação e uso da madeira para a subsistência da região.
A disfuncionalidade do regime fundiário impedia a jurisdição de controle territorial e, obviamente, o sexto da sesmaria destinado ao arvoredo não era respeitado.
Assim, seguiu-se a predação do bioma da Mata Atlântica até quase sua extinção no Nordeste. Permanecendo, no entanto, quase intocado nas capitanias ao sul, por conta da muralha do atlântico, representada pelas serras.
Nos estertores do período colonial, no espírito das reformas instituídas por D.Maria I, a Coroa, por Alvará Real, instituiu um juízo especial, denominado “conservador das matas”, e em1797, editou uma Carta Régia determinando a adoção de “todas as preocupações para a conservação das matas no Estado do Brasil, e evitar que elas se arruínem e destruam”, ordenando a conservação das matas e arvoredos que contivessem pau-brasil.
Havia no diploma régio outra novidade: a coroa portuguesa definiu como de sua propriedade todas as florestas e arvoredos ao longo da costa e dos rios navegáveis que desembocassem no mar. Os proprietários dessas terras, no entanto, receberiam novas áreas no interior, como compensação.
A fama de “alienada” de D. Maria I, por óbvio, consolidou-se nesta Carta Régia.
D. Maria, no entanto, era uma mulher inteligente e piedosa. Assim o era pelo trauma vivenciado no governo sanguinário do Marquês de Pombal – quando foi obrigada a assistir ao massacre da família Távora, em praça pública. Ciente dos relatórios que mandara confeccionar para ter ciência da situação das colônias, D. Maria tomou-se de horror pelos registros de corrupção e descontrole ocorrentes no Brasil, passando a desprezar a colônia (para a qual foi ironicamente obrigada vir, quando da transferência da família real, já sob o reinado de seu filho, D.João VI, que refugiou-se na colônia em função da guerra com Napoleão).
D. Maria sentiu o peso da desgovernança, e isso a abalou a ponto de suas ordens serem sistematicamente descumpridas no “covil de ladrões”, que era como ela enxergava o Brasil. Exemplo foi a ordem expropriatória do litoral, contida na Carta Régia de Dna. Maria, contra a qual os governadores gerais alegaram que todas as áreas citadas já eram propriedades privadas e que não havia terras no interior para compensá-las. Assim, a iniciativa não surtiu o efeito esperado[17], ademais, a aquisição da terra pela posse já havia se disseminado, de tal forma que tornava impossível saber-se o responsável pela infração em presença da curadoria das matas.
A Coroa, porém, não se deu por vencida, baixando, em11 de julho de 1799 o que seria o primeiro código florestal destinado ao Brasil, denominado “Regimento sobre o Corte de Madeira no Brasil”.
O diploma régio ocupava-se da exploração florestal, regulando a prática minuciosamente, do corte à comercialização. Iniciava-se então, o descolamento das normas ambientais com o contexto material em que seriam aplicadas…
O diploma régio estabelecia penas duras para a supressão de árvores sem autorização.
Osny Duarte Pereira, o mentor do direito florestal brasileiro no século XX, informa a respeito desta norma que:
“Das sentenças do Juiz Conservador, aplicando penalidades, cabia apelação e agravo, conforme o caso, para o Juiz do Feito da Fazenda da Relação. O corte de paus, sem licença, pela primeira vez era punido, com multa de 20$000 e das impostas as ditas condenações pecuniárias por denúncias se aplicará metade, para o denunciante e a outra para as despesas dos Reais Cortes, em todo o caso perderão alfaias, bois, carros e escravos achados nas matas, carregando ou cortando madeira”[18].
O Regimento determinava que aqueles que suprimissem a floresta por queimadas deveriam indenizar à “Real Fazenda”, com seus bens, todo o prejuízo causado pela queima da madeira, mediante avaliação, determinando o Juiz Conservador pesadas multas e prisão de trinta dias a degredo para fora da Comarca.
Em 1800, visando incrementar a fiscalização, foi criada a Patrulha Montada, para reprimir o desmatamento ilegal. A mesma Carta Régia, de 1800, reiterou o diploma de D.Maria I, determinando aos sesmeiros a obrigação conservar todas as espécies arbóreas de interesse da coroa numa faixa de 10 léguas da costa. Chegando a minúcias regulatórias, a Carta determinava a conservação de quatro léguas adentro, das margens dos rios Mamaguape e Paraíba, instituindo o “tombamento” de todas as árvores ali existentes.
As áreas de preservação poderiam excepcionalmente atender à autorização de supressão expedida pelos governadores caso houvesse necessidade de consumo legal.
De fato, as normas eram consideradas, não sem razão, “confusas e conflitantes”, impossíveis de serem obedecidas.
O conflito entre norma florestal e sua implementação, permaneceu desde então, uma novela com novos conflitos surgidos anualmente.
José Bonifácio, por exemplo, em 1802, baixou as primeiras instruções para se reflorestar a costa brasileira. Essa intenção foi reforçada com o desembarque da família real portuguesa, em 1808.
Com a instalação da sede do reino no Brasil, criou-se o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, considerado o embrião da administração florestal brasileira (em que pese seu objetivo precípuo ser a aclimatação de plantas e ao estudo da flora brasileira de interesse econômico).
A preocupação, no entanto, parou aí. Após a independência, no período imperial, a preocupação com a manutenção das florestas tornou-se praticamente nula. Com a edição da Resolução de 17 de julho de 1822, suspendendo o regime de sesmarias, instaurou-se o período de maior desmate no território nacional.
Não havia mais preocupação com títulos ou registro de terras. O invasor ou ocupante, posseiro ou grileiro, tratava de logo no primeiro momento por abaixo a mata para implantar o roçado e instalar cabeças de gado, expressando os sinais de posse.
O governo imperial passou a editar regras pontuais, de forma reativa.
Assim, em 1825, o império proibiu o corte do paubrasil, perobas e tapinhoãs aos particulares. Por meio de uma Carta de Lei de 15 de outubro de 1827, instituiu a expressão “madeira de lei”, determinando a jurisdição fiscalizatória sobre elas, e o poder de interditar os cortes da madeira para construção, aos Juízes de Paz. Em 1829, transferiu a competência para autorizar a derrubada de matas em terras devolutas às Câmaras Municipais,
Em 1830, foi promulgado o Código Criminal do Império, tipificando como crime, nos artigos 178 e 257, o corte ilegal de árvores. O incêndio florestal, no entanto, não foi tratado como crime especial – em uma concessão claríssima à expansão das queimadas.
A proibição da queimada só veio a ocorrer com promulgação da Lei n° 3.311, de 14 de outubro de 1886, instituindo o delito de incêndio florestal.
A Lei de Terras de 1850 – Lei 601, ao instituir o regime da propriedade privada no Brasil, baixou normas de restrição florestal, punindo a derrubada de matas e as queimadas com expropriação, pena de multa e prisão de dois a seis meses (art. 2º).
O decreto regulamentador da Lei, de 1854, transferiu aos subdelegados de polícia as funções semelhantes atribuídas no período colonial aos juízes conservadores das matas nacionais (Wainer, 1991).
A timidez legislativa do império não impediu, porém, que o Imperador D. Pedro II adotasse a iniciativa de implementar reflorestamentos em escalas nunca antes vistas no ocidente até então, como o reflorestamento da Tijuca, implementado em 1862 e o da Serra da Cantareira, em São Paulo, projetado em 1885 mas só iniciado após criado o Horto Botânico e o Serviço Florestal paulista, em 1911.
Com o fim do Império, em 1889, surge afirmação republicana da plenitude da propriedade privada, com a Constituição de 1891, cuja interferência na gestão dos remanescentes florestais foi bastante nociva.
Segundo Osny Duarte Pereira, “a consagração ilimitada do direito de propriedade permitia entender-se que cada um tornaria livre para cortar e queimar as matas, como melhor lhes aprouvesse”[19]
11. O surgimento da codificação florestal
Em 1904, face ao crescimento exponencial da economia brasileira sob a égide da república, após experimentações com mais de cem espécies diferentes, introduziu-se no Brasil a cultura do eucalipto, com o fito de incrementar o insumo lenhoso no processo industrial e atender à enorme demanda da construção civil.
A introdução do eucalipto gerou profunda reação. Não apenas ocorreu um choque na indústria madeireira, “ameaçada” pelo “invasor estrangeiro”, como também o país acordou para uma escassez que insistia há séculos em não ver.
O governo republicano reagiu à polêmica editando uma Mensagem Presidencial em 1907, dirigida ao Congresso Nacional pelo Presidente Afonso Pena informando que “Conforme determinastes, acham-se em preparo as bases de um projeto de lei de águas e florestas. Em tempo hei de submetê-las à vossa esclarecida consideração.”
Em 1911 foi criado o Horto Florestal como parte integrante do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e, através do Decreto 8.843, no mesmo ano, foi criada a primeira reserva florestal do Brasil, no antigo Território do Acre – que praticamente ocupava todo o território.
Por óbvio que a reserva instituída, por absoluto descompasso entre o papel e a realidade, jamais foi implantada.
No mesmo período começaram a pulular denúncias sobre a devastação que se iniciava na Amazônia. O governo republicano, porém, adotou a estratégia de ganhar musculatura científica para tratar da questão, reforçando o papel do serviço florestal capitaneado pelo Jardim Botânico do Rio.
A ideia seguia o processo adotado nos EUA, pelo presidente Ted Roosevelt, o primeiro a instituir Parques Nacionais e convocar uma reunião de todos os governadores dos estados americanos para debater a proteção florestal no país, em 1906. Calou fundo nos técnicos republicanos brasileiros a ideia de classificar territorialmente as florestas nacionais, criando formas de proteção diversas.
Nesse sentido foram as mensagens presidenciais dirigidas ao Congresso Nacional, de 1912, 1913 e 1919, mencionando o grande número de mudas distribuídas à população e também plantadas no Horto Florestal.
A Mensagem Presidencial de 1912, subscrita por Hermes da Fonseca informava sobre o progresso científico implementado pela República:
“Reformado, por Decreto nº 7.848, de 3 de fevereiro de 1910, o Jardim Botânico acha-se atualmente dotado de grandes melhoramentos, a maior parte dos quais se ultimaram no correr de 1911. O Regulamento, aprovado por aquele Decreto, imprimiu a esse estabelecimento científico feição completamente nova, não só pela remodelação de antigos serviços, como pela criação de outros.”
Em 1920, no pós-guerra, acentua-se o processo de industrialização e a produção agrícola enfrenta nova crise, com a supervalorização do café e a necessidade de cobrir prejuízos contraindo empréstimos aos britânicos.
Os recursos florestais sofrem nova pressão. A mensagem presidencial deste ano, redigida por Epitácio Pessoa – um presidente muito especial, visto ter sido, antes, ministro da justiça, procurador geral da república e ministro do STF, trata, então, de abordar a necessidade urgente de preservar e restaurar os recursos florestais, bem como adotar medidas contra o desmatamento.
Para o governo, a necessidade de regrar o uso dos recursos florestais importava sobretudo à própria indústria, em especial aos setores da construção civil, movelaria, papel e celulose. Interessava a regulação florestal, também, ao setor de exportação, em especial o de madeiras finas – visto o risco de nada restar das madeiras de exportação, como o jacarandá, o mogno etc.
Importante frisar que nessa época foi declarada a extinção do Pau Brasil – fato que motivou protestos e foi tema da Semana de Arte Moderna de 1922 – em São Paulo. De fato, a extinção foi revogada somente quando um exemplar foi encontrado, em 1928, no Engenho São Bento, em Pernambuco, reiniciando o plantio da espécie que deu nome ao país e, até hoje, continua sob risco.
Declarou o presidente Epitácio Pessoa que “dos países cultos dotados de matas e ricas florestas, o Brasil é talvez o único que não possua um código florestal.”
A partir de então, o governo federal baixou o Decreto 4.421, de 25 de dezembro de 1921, com força de lei (estado de sítio), regulamentado pelo Decreto 17.042, de 1925, criando o Serviço Florestal do Brasil para a conservação e aproveitamento econômico das florestas. A autarquia foi substituída pelo Departamento de Recursos Naturais Renováveis por um detalhe historicamente perverso: o decreto federal foi questionado por não encontrar respaldo na Constituição de 1891, pois a Carta nada dizia sobre competência federal sobre matas. Aliás, não continha a palavra árvore em suas linhas.
Porém, estava dada a largada para a busca de uma estrutura sistematizada que produzisse um meio de defesa das florestas e permitisse seu plantio e exploração de forma economicamente racional.
A noção de que a floresta era um patrimônio nacional estava cristalina no ambiente republicano ao final da década de 20. Com o apoio das instituições erigidas nas décadas anteriores, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco, iniciou-se a busca pela codificação florestal.
Com a revolução de 1930 adveio a mentalidade corporativista, que impingia uma maior participação do Estado na gestão dos recursos naturais e, também, a noção fascista de valorização da floresta como expressão natural e fonte estratégica para alavancar a indústria do aço. Para tanto, tratou o governo de Getúlio Vargas de baixar normas fundamentais para a proteção ambiental no Brasil: o Código de Águas, o Código de Caça, o Decreto de Proteção do Patrimônio Histórico, o Decreto de Proteção dos Animais e o Código Florestal.
12. O Espírito Fascista e o Código Florestal de 1934
Com Getúlio Vargas o país tratou de buscar dar o “grande passo” em meio às grandes mudanças que estavam ocorrendo no mundo.
A Década de 20 foi marcada pela revolta tenentista de 1922, pela Revolução de 1924 em São Paulo, pela Coluna Prestes em 1927 e pelo fenômeno criminológico do cangaço no nordeste brasileiro. Foi marcada também pelos governos sucessivos sob Estado de Sítio e pela instabilidade internacional, registrada pela guerra civil na União Soviética – os levantes na Alemanha do pós-guerra, insurreições comunistas e o avanço do fascismo com Mussolini, na Itália. Contribuiu também o ruralismo nascente na segunda fase da Revolução Mexicana e a retomada do caudilhismo nos países latinos de língua espanhola.
A década de 20 também consolida o maior caso de biopirataria do planeta – o roubo britânico das seringueiras brasileiras, planejado e executado em quatro décadas de incentivo inglês ao regime extrativista no Brasil, enquanto a coroa britânica implantava os seringais em cultivo de extensão, na Malásia, visando produzir o látex em escala industrial.
Feita a transição, o capital britânico abandona toda a estrutura extrativista da borracha amazônica, entre 1912 e 1914 e remete a próspera economia da região norte do Brasil à idade da pedra, da noite para o dia. Entre 1879 e 1912, o látex extraído na região amazônica, em especial no Pará, abasteceu indústrias insaciáveis na Europa e América do Norte.
As árvores cresciam de forma selvagem na bacia do Amazonas, favorecendo um sistema extrativista e rudimentar, que manteve o produtor brasileiro numa espécie de “zona de conforto”.
Mas, em 1876, o explorador britânico Henry Wickham conseguiu contrabandear cerca de 70 mil sementes de seringais – um dos maiores casos de biopirataria da história – com as quais implantou nas colônias britânicas da Malásia plantações organizadas de seringueiras – estruturadas para exploração em escala industrial.
Com a transferência dos negócios para Malásia, a Amazônia saiu da condição de região mais próspera no planeta para a idade da pedra. O Brasil, que chegou a produzir 95% da borracha mundial até o início do século XX, em 1928 atendia a apenas 2,3% da demanda global.
No anto seguinte, sobreveio a queda da Bolsa de Nova Yorque. O governo Vargas toma o Poder em meio à implementação da reforma monetária – proposta pelo próprio Vargas, quando ministro da fazenda, no enfrentamento da crise mundial.
A tentação totalitária, no entanto, já rondava o governo getulista – o advento do golpe fascista em 1937 e a instalação do Estado Novo, já era em 1930 considerado uma questão de tempo – ainda que em 1934 tenha sido promulgada uma nova Constituição.
Na cidade do Rio de Janeiro, o novo governo instalou uma Comissão Legislativa, instituída no Ministério da Justiça, visando dar uma nova face legal à Segunda República. Esta comissão instituiu uma 20.ª Subcomissão Legislativa, composta por Augusto de Lima, José Mariano Filho e Luciano Pereira da Silva, com a tarefa de elaborar um anteprojeto de Código Florestal.
Por conta do já avançado estudo de codificação, a proposta da comissão foi apresentada em tempo recorde, em 31 de outubro de 1931, publicada no Diário Oficial de 23 de novembro do mesmo ano, para receber sugestões.
Em seguida, adveio a Revolução Paulista de 1932, a tomada do poder por Adolf Hitler na Alemanha, e o frisson por um “Estado forte e intervencionista que representasse os verdadeiros anseios nacionais”.
Mussolini havia criado a Carta Del Lavoro, regulando as relações entre patrões e empregados, jurisdicionada por um sistema sindicalista e corporativista especializado. Também havia criado um código florestal, no que foi imitado por Adolf Hitler e suas legislações de proteção animal e à paisagem, que formaram o chamado “Código Ecológico do Reich”.
Todo esse clima contaminou a formatação da nossa primeira codificação florestal, resultando no Projeto publicado no Diário Oficial de 26 de abril de 1933, sancionado com o Decreto nº 23.793 de 23 de janeiro de 1934, regulando o uso das matas nacionais e particulares.
Com forte caráter intervencionista, misturando o regime de sesmarias sob as ordenações com o planejamento florestal norte-americano, sob a gestão de um Estado fascista e centralizador, o Código Florestal de 1934 regulava minuciosamente defesa dos maciços florestais, o preparo de lavouras, os cortes de árvores, fixando penalidades por crimes e contravenções florestais.
O código de 34 era um documento intervencionista a pretexto de ser conservacionista. Fazia severas restrições à propriedade privada, permitia o desenho unilateral do Estado sobre a propriedade privada, visando instituir proteção florestal, sem se preocupar com o regime de propriedade privada garantido constitucionalmente.
O código vivia o paradoxo cognitivo mencionado no início de nosso artigo. As restrições ao direito de propriedade surgiam em um ambiente legal que mantinha, ainda, as garantias constitucionais de livre fruição da propriedade.
A legislação civil vivia importante momento de implementação do Código Civil Brasileiro. Civilistas, inoculados na academia e no judiciário, tratavam de aplicar o direito civil francês enquanto os criminalistas teciam loas ao direito penal italiano. A noção de área reservada: Parque Nacional, Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais e Florestas Protetoras, copiada do modelo de gestão territorial dos EUA de Ted Roosevelt, não era compreendida no ambiente jurídico brasileiro, que não conhecia a regulação por meio de uma autoridade especializada que não tivesse poder de jurisdição centralizada e sem que se impusesse um marco legal instituindo prévia indenização.
O Brasil agrarista de então, vivia o dilema de produzir café, de empreender a agropecuária, de sustentar decadente plantio da cana de açúcar, de incentivar a nascente silvicultura, e, ainda tolerar a implementação dessas atividades à custa da supressão rudimentar da vegetação nativa. No resto do país, sobrevivia-se do mais rudimentar extrativismo.
Assim, as classificações impostas pelo Código Florestal soavam artificiais.
Por exemplo, o diploma classificou as florestas em: protetoras, remanescentes, modelo e de rendimento. As florestas protetoras simulavam as áreas de preservação permanente dispostas nas ordenações, porém necessitavam de indicação administrativa para serem instituídas. As florestas remanescentes sofreriam proteção para resguardar seus atributos naturais – as atuais unidades de conservação. As florestas modelos constituíam as florestas plantadas com limitado número de essências florestais, nativas ou exóticas, e as florestas de rendimento eram todas as demais não enquadradas nas hipóteses anteriores, destinadas ao uso intensivo dos seus recursos.
Esse desenho soava para os produtores rurais como verdadeiro saque ou pilhagem dos recursos florestais. Algo similar à ação de D. Maria “A Louca”, no ambiente irascível das sesmarias.
Assim, sancionado por Decreto o Código Florestal de 34 enfrentou resistência e foi atropelado pelas circunstâncias.
Aliás, circunstâncias e eventos interruptivos não faltaram: golpe de Estado em 1937, Segunda Guerra Mundial em 1939, transição da política de alianças fascistas para o apoio aos aliados em 1942, advento do projeto de siderurgia e implantação da indústria de base no país, boom da exportação de grãos, queda do regime getulista, nova Constituição em 1946, advento da indústria petrolífera, implantação dos grandes parques industriais nos centros urbanos do sudeste, construção de Brasília, incremento da construção civil e da malha rodoviária.
Obsoleto sem ter saído do papel, o Código Florestal de 1934 foi, no entanto, a base para uma nova proposta de diploma legal que pudesse normatizar adequadamente a proteção jurídica do patrimônio florestal brasileiro
Como lecionou o Prof. Paulo Nogueira Neto, “homem é território”. E a gestão fundiária há de ocorrer em consonância com as melhores respostas econômicas ao uso da terra, não contra estas.
13. O espírito produtivista do Código Florestal de 1965
O Código Florestal editado em 1965, foi promulgado pela Lei Federal 4771 de 15 de setembro daquele ano. No entanto, surgido dos escombros do código de 34, o novo diploma já padecia de vícios
Se o Código de 34 representava o sonho intervencionista do ordenamento e planificação administrativa unilateral do território, nele apondo, por mero procedimento administrativo, áreas de preservação, parques e reservas – nos moldes fascistas, o Código de 1965, por sua vez, assumiria no nascedouro o vício populista de “compensar” a inação do Poder Público, transferindo ao particular, obrigações e restrições territoriais no uso da terra – como se o ordenamento “no atacado” pudesse ser substituído por normas restritivas apostas “no varejo”.
Ocorre que, conforme constatam todos os doutrinadores do período (incluso Osny Duarte Pereira, principal redator do Código de 1965), a preocupação com o valor ecológico de nossa mata nativa era subsidiária face à desejada “homogeneização florestal”.
A lei buscava ampliar nossa capacidade de produzir madeira para a construção civil, a fabricação de papel, móveis, armas, componentes industriais e para combustível – para prover a indústria siderúrgica, energética, de transporte, etc.
Não buscava o texto legal de 1965, em nenhum momento, se opor aos preceitos industrialistas e desenvolvimentistas do período.
Nessa mistura de intervencionismo, populismo, industrialismo, silviculturismo, cultura estatista e visão burocrática cartorial, o legislador “construiu” institutos sem paralelo no mundo, visando forçar proprietários rurais a compensar, dentro da própria estrutura produtiva, o incremento que se dava à silvicultura.
O código avançou ousadamente para a construção de institutos inovadores, mas de difícil compreensão para a época.
Trataram os legisladores de instituir a APP – Área de Preservação Permanente, extraída de forma parafraseada das ordenações portuguesas, para conferir um caráter mandatório de restrição territorial na propriedade privada. Acrescentaram, ainda, outro novo instituto, da RL- Reserva Legal – algo similar à sexta parte do regime de sesmarias, visando reproduzir em microzonas privadas (sem prejuízo do manejo florestal) o que o Estado Brasileiro deveria ordenar em macrozonas públicas (com a devida desapropriação para criação de Parques Nacionais e Reservas).
Tais instrumentos administrativos, advieram no cenário nacional poucos meses após o choque provocado pelo Estatuto da Terra.
Ocorre que os dois institutos permaneceram relegados a segundo plano por quase três décadas, servindo de mero suporte nominal para o fomento de uma política agrária mal conduzida e uma silvicultura expansionista e caótica. Surgem dois institutos, no entanto, muito importantes: o INCRA e o IBDF.
Tudo continuaria “como dantes no Quartel de Abrantes”, não fosse a história de fracassos retumbantes apresentada pela catastrófica política de exploração florestal brasileira.
A par de nada reflorestar (incluindo aí projetos inteiros de florestas plantadas e muito mal manejadas), a silvicultura nacional viveu crises cíclicas por todo o século XX, nos anos 20, 40, 60 e 80, resultando no esgotamento em escalas nunca antes vistas das reservas naturais de Araucária, jacarandá, mogno e de outras madeiras de lei.
Sendo o Código Florestal inspiração do regime de silvicultura, o desastre da política florestal calou fundo na política de controle territorial, demandando, no final do ciclo do regime militar, efetiva implementação.
De fato, houvesse ocorrido eficaz cumprimento do Código Florestal de 1965, concomitantemente com efetiva implementação do corajoso e inteligente ESTATUTO DA TERRA – o grande instituto agroecológico nacional, a conciliação e harmonização dos dois institutos ocorreria.
Mas o rápido avanço da tecnologia, da industrialização somado ao processo de concentração industrial e, por conseguinte, de toda nossa população em cidades, alterou toda a perspectiva depositada nesses marcos legais.
14. A convivência difícil do Código Florestal com a posterior legislação ambiental
O crescimento da população urbana, a concentração industrial e a extensão da exploração agrícola, com consequente degradação dos recursos ambientais, exigiram do Governo Federal que instituísse instrumentos dedicados de controle da poluição industrial nos anos 70. Já na década de 80, o Poder Público tratou de articular todo um sistema de gestão ambiental, em escala nunca antes experimentada no País[20]
O SISNAMA – Sistema Nacional do Meio Ambiente, instituído pela primeira lei de caráter regulatório após o Estatuto da Terra, de Política Nacional do Meio Ambiente – Lei 6938 de 1981, não nasceu sozinho; ocorreu coligado com a reestruturação do Ministério Público Brasileiro – importantíssimo instrumento de implementação legal e fiscalização de cumprimento no regramento da nova república – regida pela Constituição de 1988.
Essa mudança estrutural adveio concomitantemente ao aparelhamento institucional da sociedade civil organizada, para a defesa dos interesses difusos e coletivos, entre os anos 80 e 90.
Novos marcos legais de controle ambiental, a partir de então, passaram ser instrumentalizados conjuntamente, modificando radicalmente as relações institucionais internas em nosso país. Destaque para o advento da Lei de Parcelamento do Solo Urbano, de 1979, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, de 1981, a Lei da Ação Civil Pública, de 1985, a decisiva Constituição Federal promulgada em 1988, o Código de Defesa do Consumidor, de 1991, o conturbado Decreto da Mata Atlântica e a Lei de Improbidade Administrativa, de 1992.
Dentro desse novo oceano normativo, o Código Florestal de 1965 ressurgiu como uma espécie de celacanto – o peixe pré-histórico que se julgava extinto há milhões de anos e ressurgiu, vivo, nas águas de Madagascar…
No período conturbado dos anos 80 e 90, o Código precisou sofrer seguidas modificações, visando sua compatibilização com a Constituição e com a nova legislação ambiental brasileira.
Essa modernização seguiu, porém, em descompasso com a implementação integral do instrumento fundiário necessário para projetar a boa aplicação do Código Florestal – o Estatuto da Terra.
Os esforços para repaginar o marco florestal, no entanto, acabaram por desconfigurá-lo.
O texto originado em 1965, após as alterações ocorridas paulatinamente nos anos 1980 e 1990, resultou num texto legal desprovido de personalidade e mal estruturado. O caráter produtivista e rural do Código foi extraído de suas vísceras para dar lugar a uma fachada neourbanóide, natureba e “holística”.
O neo-alterado diploma florestal passou a ser objeto das mais díspares interpretações hermenêuticas e orientações exegéticas, transformando-se em uma espécie de “Código- Esfinge” (enigmático e devorador).
Para piorar o quadro, ocorreu outro fenômeno igualmente grave: a alteração cultural e ideológica dos agentes públicos envolvidos na implementação da legislação ambiental – turbinada pela nascente preocupação ecológica no seio da sociedade civil.
15. O Biocentrismo fascista e a Medida Provisória de 2001
A introdução da Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos – Lei nº 9.433 de 1997 e da Lei de Crimes Ambientais e Sanções Administrativas – Lei nº 9.605 de 1998, acrescentaram mais lenha no “incêndio florestal” cognitivo e paradoxal que envolvia o Código Florestal de 1965.
O conflito cognitivo era também abastecido pela fogueira das vaidades e pelo idealismo sincero – porém radical, de vários dos novos atores que passaram a operar o direito ambiental nesse período, todos deslumbrados com o metaprotagonismo biocentrista que contaminou a militância ambiental na Administração Pública e na Sociedade Civil, na passagem do século XX para o XXI.
Esse detalhe ideológico-comportamental ainda irá merecer melhor análise, com maior perspectiva histórica, tamanho o volume de danos que causou, à segurança jurídica das relações econômicas no agronegócio, na infraestrutura e na política urbana brasileira. O biocentrismo conspira contra a produção nacional, a segurança dos investimentos e o Estado de Direito e, por fim, destrói o próprio esforço conservacionista que pretexta incentivar, fazendo confundir, no conjunto da sociedade, preservação ambiental com imobilismo[21].
O resultado dessa somatória de contradições foi a edição da Medida Provisória n. 2166/2001, alterando o caráter e o sentido já desfigurado Código Florestal de 1965.
A medida foi reeditada SESSENTA E SETE VEZES – até que a mudança de regras da vigência das medidas provisórias, inserida por emenda constitucional, pôs o instrumento em ponto morto no Congresso Nacional
O desastre da Medida Provisória foi completar o processo teratogênico iniciado nos anos 80, transformando o código Florestal num monstro sem rosto, sem que as alterações impostas, desprovidas do crivo parlamentar ou de consulta pública, indicassem parâmetros técnicos que as justificassem.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso, inadvertidamente, tratou de baixar uma Medida Provisória que atingia frontalmente todo o setor produtivo rural brasileiro e, de quebra, todos os regimes de uso do solo urbano nos municípios.
A medida provisória, sem sequer apresentar uma exposição de motivos ou explicação oficial prévia para a adoção dos institutos. Reconfigurou o conceito de Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal – travestindo-os com objetivos pretensamente geomórficos, com rombudas medidas métricas e proporções assimétricas.
Na Medida Provisória, o instituto da Reserva Legal, que no texto original da Lei de 65, fazia referência textual simplesmente a “áreas de florestas”, com as alterações promovidas em 2001, passou a ter uma funcionalidade diversa – conceituando as reservas como áreas da propriedade necessárias ao “uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas”.
O fato objetivo constatado na Lei original deu lugar a um discurso subjetivo e ideológico contido na Medida Provisória.
Restou à RL atender uma função quase bíblica, algo similar à “expiação de culpa” pela “produção agrícola degradadora” erigida na forma de “indulgência florestal”.
A Reserva Legal passou a ter um expresso caráter “limitador” da produção, como se o agricultor tivesse que buscar o perdão pelo “uso alternativo” que fazia da sua terra.
Aliás, a Medida Provisória qualificou a produção agrícola, a atividade agrária, o cumprimento da função social da propriedade, como “uso alternativo do solo”.
A maior parte das “indulgências florestais” erigidas constituíram-se em generalizados fragmentos ínfimos de terra na pulverizada estrutura fundiária nacional, tornando inócua sua finalidade ecológica.
De fato, estudos científicos nacionais e internacionais demonstram a desconexão da manutenção desses fragmentos aleatórios obtidos em área privada com a finalidade de manutenção de fluxos gênicos. Só ocorreria equilíbrio biológico, ou seja, um espaço que cumprisse com sua funcionalidade ecossistêmica, com a existência conjunta e satisfatória de fragmentos florestais superiores a 700 (setecentos) hectares, reza a lição dos especialistas.
Para se ter uma ideia do descompasso entre o que se pretende e o que se produz, a averbação de Reservas Legais em território paulista – onde 50% das propriedades rurais não alcançam individualmente 640 hectares, formou um conjunto de fragmentos florestais esparso e desordenado, que pouco contribuiu para estruturação dos ecossistemas e sequer atinge a funcionalidade ecológica ou a biodiversidade pretendida pela norma legal.
Vários foram os documentos produzidos pela academia e pelos setores produtivos, no âmbito dos debates para a conversão da Medida Provisória em lei, com destaque para o documento auferido no encontro de Ribeirão Preto, com cientistas, economistas, juristas e produtores rurais, debatendo a crise no setor agrário, face à medida provisória, em apoio ao processo legislativo de uma nova lei florestal[22].
Chamou atenção a conclusão contida no documento:
“… o conceito de suporte conservacionista à atividade econômica rural, que comandava originalmente a legislação, a partir de seguidas modificações no texto original do Código Florestal, culminando com a arbitrária Medida Provisória editada em 2001, foi substituído de forma maliciosa por um conceito preservacionista estreito e preconceituoso, que classifica a produção agrícola de alimentos, fibra, energia e insumos importantes para a manutenção da vida humana como “uso alternativo do solo”, entre outras barbaridades incompatíveis com os objetivos de proteção à dignidade do ser humano e o seu direito ao Desenvolvimento Sustentável, estatuído pelas Nações Unidas”[23].
O próprio Poder Público viu-se confrontado pela realidade que desmentiu o conceito biocentrista, contido na medida.
A solução de ordem republicana não poderia ser outra que não retomar o processo legislativo e, finalmente, instituir um novo Estatuto Florestal.
16. Um processo legislativo republicano para um novo Código Florestal Republicano
Dentro dos parâmetros do regime democrático, o Congresso Nacional resgatou seu papel de banhar de forma republicana, com o devido processo legislativo, a legislação florestal alterada pela medida provisória.
Para tanto, sob o comando do Deputado Federal Aldo Rebelo, primeiro relator do Projeto de Lei, ocorreram várias audiências públicas, workshops, seminários, produção dos mais variados documentos, resultando do debate um texto que buscava considerar o estímulo e a formação de grandes fragmentos florestais, de forma coordenada e tecnicamente fundamentada, dentro de uma estratégia de manutenção do equilíbrio ecológico em consonância com o desenvolvimento social e econômico do Brasil, sem abrir mão da segurança ambiental.
A votação do projeto de lei foi bastante conturbada pela péssima condução dos interesses do Governo Federal, protagonizada pela liderança governista na Câmara Federal, isso somado a um intervencionismo claudicante dos próceres do Ministério do Meio Ambiente, turbinado por ONGs, fato que causou desgaste à Presidência da República de Dilma Rousseff, sem qualquer necessidade.
O Projeto de Lei que seguiu para o Senado Federal para votação, respeitava peculiaridades territoriais, considerava variáveis regionais e obedecia a competência legislativa concorrente estatuída na Constituição Federal.
No Senado, contudo, ocorreu uma pressão governamental contraditória, por um texto conservador – próximo à malfadada Medida Provisória de 2001. A intenção era atender à necessidade burocrática de salvar todo um cipoal de normas, regulamentos, multas emitidas e sanções já implementadas. O fato provocou um acordo de lideranças que modificou consideravelmente o texto aprovado, merecendo, então, nova análise na Câmara Federal, que, por óbvio, sentiu-se bastante melindrada com a quase desautorização do seu trabalho, pela articulação dos Senadores.
Sob a relatoria do Deputado Paulo Piau (PMDB-MG), o PL do Código Florestal ganhou contornos mais produtivistas que o anteriormente saído da casa dos representantes do povo, produzindo até mesmo omissões e incompletudes que mereceram atenta observação da chefia do executivo federal, quando da sua sanção.
O texto aprovado foi então sancionado – tornando-se a Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012.
A militância biocentrista fez uso de todos os expedientes: cosméticos, dramáticos, científicos e institucionais. Até mesmo tragédias ocasionadas pelas chuvas, o compromisso Brasileiro perante o Protocolo de Kyoto, a Conferência da ONU Rio+20, serviram de pretexto para criar obstáculos ao novo Código Florestal – como se o anterior, então EM VIGOR, houvesse evitado ou pudesse evitar a tragédia da ocupação populacional em áreas de risco não mapeadas, ou mesmo o desmatamento histórico num território sabidamente mal ordenado.
Na verdade, as tragédias mostraram justamente a falência da legislação anterior, jamais a necessidade de sua manutenção.
Ao contrário de todos os regimes de alteração legal anteriores, o debate, o curso do projeto de lei e a sanção presidencial se deram dentro da mais absoluta normalidade institucional e em pleno vigor do Estado Democrático de Direito, instando dos operadores do direito respeito às instituições, acima de tudo.
Ao se observar o contexto no novo estatuto legal de 2012, insta apoiar o Regime Democrático que o suporta e o processo legislativo que o originou.
17. Um mecanismo para a resolução dos conflitos fundiários e ambientais
A Lei 12.651/2012 reforça os mecanismos de restrição territorial estabelecidos na lei anterior. No entanto, supera inconsistências e incoerências nocivas à propriedade afetada. Criou também um importante instrumento de conciliação ambiental e fundiária, cuja eficácia se revelou essencial para a pacificação agrária e ambiental: o CAR – Cadastro Ambiental Rural.
Após sancionada a nova Lei Florestal brasileira, o governo federal organizou a estrutura de controle ambiental das propriedades rurais. Com isso, permitiu aos estados da federação cumprir com o dever de promover a regularização ambiental dos imóveis rurais, reduzindo sensivelmente os atritos ocorrentes entre o agronegócio e a burocracia[24].
O Decreto Federal 8.235/2014 e a Instrução Normativa n. 2 do Ministério do Meio Ambiente, editados no mesmo mês de maio, buscaram reduzir a enorme insatisfação dos grandes produtores rurais com relação ao cumprimento da Lei Federal – sempre recalcitrantes e reativos a qualquer alteração no ambiente normativo.
A regularização ambiental induz à precisão fundiária do imóvel rural. Esse o grande segredo do Cadastro Ambiental Rural, introduzido pela Lei de 2012.
A ideia é pacificar os conflitos fundiários e ambientais, conferindo segurança na fixação das áreas de preservação e conciliando-as com a produção rural. Nos termos da Lei Federal 12.651/2012, quem tiver áreas de preservação permanente (APP) e/ou reserva legal abaixo dos mínimos obrigatórios, deve aderir aos Programas de Regularização Ambiental (PRA) dos Estados e do Distrito Federal (PRA).
O Cadastro Ambiental Rural, criou condições espaciais, cartográficas, para permitir a regularização e materializar a autoridade territorial do Poder Público sobre o sistema fundiário nacional, permitindo o devido controle ambiental das atividades agrárias.
O CAR é composto de dados pessoais do proprietário ou possuidor rural, podendo ser pessoa física ou jurídica, além de dados cadastrais e da localização georreferenciada das Áreas de Preservação Permanente (APP), áreas de Reserva Legal (RL) e áreas de uso restrito (AUR) de todos os imóveis rurais do país.
O grande instrumento tecnológico instrumentalizado pelo CAR é o georreferenciamento, que permite racionalizar a recuperação ambiental
A Lei e seu Decreto Regulamentador realizam o Cadastro e autorizam Estados e Distrito Federal iniciarem o processo de regularização das propriedades rurais, de acordo com os respectivos programas de regularização e critérios de ordenamento territorial.
Cumpre à Instrução Normativa, editada pela autoridade ambiental, por sua vez, regulamentar as normas para os programas de regularização fundiária e o CAR. É a instituição do ambiente de regulação no sistema legal de gestão florestal – algo almejado desde os tempos das sesmarias (guardadas as proporções).
Os proprietários inscrevem seus imóveis rurais no Sistema informatizado de Cadastro Ambiental Rural (Sicar), a cargo do governo federal, que emite o recibo de inscrição. De posse dos dados do imóvel, o próprio Sicar aponta se há ou não necessidade de recuperação de APP e reserva legal, dando condições para que cada proprietário elabore plano de recuperação.
O decreto federal buscou desburocratizar o sistema de cadastro e regularização, dispensando a necessidade de técnico responsável no ato de inscrição no CAR e elaboração do plano de recuperação – cujas diretrizes são básicas. A ideia foi reduzir custos e estimular a regularização ambiental das propriedades, em especial as pequenas. O prazo para a recuperação da reserva legal pôde se estender até 20 anos.
O cadastro deve ser efetivado por imóvel, independentemente do número de matrículas que compõem a propriedade. Há aí, uma feliz harmonização com o controle agrário exercido sobre o sistema fundiário, inaugurado pelo Estatuto da Terra. O critério segue o princípio de controle administrativo, agroambiental, liberando o sistema de controle ambiental do critério registral e civil.
Em verdade, o mecanismo resgata o Estatuto da Terra – Lei Federal 4.504/1964, que já definia (no seu Art. 4º , inciso I), o imóvel rural, como sendo “prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada”.
O cadastro, portanto, alcança o que a lei agrária sempre almejou. Rejeita o sistema registral, que confunde administradores e proprietários, impondo uma definição territorial georreferenciada e estabelecida por critérios de uso, fato que por si só obriga à revisão dos termos de ajuste e de compromisso relacionados à recomposição e delimitação da reserva legal, firmados antes da nova lei, no conturbado ambiente biocentrista da medida provisória.
Por outro lado, a nova ordem florestal reduz a possibilidade de interferência no sistema de controle ambiental dos conflitos de natureza fundiária e de caráter possessório.
O CAR, de fato, não é documento de comprovação fundiária. É instituto declaratório de ordem administrativa, que atesta a situação ambiental de área de responsabilidade do declarante. Portanto, não gera direitos possessórios, mas constitui elemento.
O proprietário rural (ou detentor da posse), ao preencher o sistema, tem a imagem de satélite do imóvel e deve nela desenhar a área declarada, indicando a reserva legal, cursos d’água existentes, estradas etc. O sistema, então, calcula automaticamente as áreas de preservação permanente e as áreas a serem recuperadas. O próprio sistema informatizado deve conferir se as informações são verdadeiras ou não, dentro dos parâmetros programados. Essa situação pode ser considerada regular em relação às áreas de interesse ambiental ou, caso possua o interessado algum passivo, considerada pendente de regularização.
Os estados e distrito federal firmam, por sua vez, um único termo de compromisso POR IMÓVEL, nos termos do Decreto 8.235/2014, suspendendo aplicação de sanções administrativas, como embargos relacionados à regularização, a partir do protocolo do Termo de Compromisso. Dessa forma, o procedimento permite melhor equacionamento dos passivos ambientais relacionados à reserva legal e APP.
Enquanto o termo de compromisso estiver sendo cumprido, embargos ficam suspensos, exceção feita a penalidades e infrações ambientais não relacionadas ao termo, como desmatamentos não autorizados.
A implementação do sistema enfrenta assimetrias, pois vários estados não implementaram devidamente os programas de regularização ambiental, ou estabeleceram regras de acordo com as características ambientais da região dispostas num plano de zoneamento ambiental.
Os programas estaduais, a nosso ver, devem ser os mais objetivos possíveis, sob pena de burocratizar e com isso desestimular a regularização ambiental dos imóveis rurais.
A nova ordem legal instituída pelo “Novo Código Florestal (NCF)”, demanda regulamentação quanto as chamadas Cotas de Reserva Ambiental, instrumento afinado com o mercado de compensações ambientais, como alternativa para recuperação dos passivos de reserva legal. Esse sistema de compensações interage com o mercado de valores mobiliários, incentivando trocas produtivas com vantagem ambiental.
De acordo com a lei, os proprietários que tiverem menos reserva legal do que o obrigatório pode recuperar o seu passivo através de: i. regeneração (que pode ser feita isolando uma determinada área para que a vegetação nativa retorne naturalmente); ii. recomposição (recuperando a vegetação com o plantio de mudas ou sementes de espécies nativas) e iii. compensação – que poderá se dar em Unidades de Conservação ou por meio das cotas de reserva ambiental, provenientes dos possuidores de reserva legal acima do obrigatório.
Para esse mercado funcionar, regras sempre serão baixadas conforme o exigir a demanda material ditada pelas circunstâncias econômicas e, nesse sentido, o governo deve se conscientizar que o mercado deve conduzir o processo, cumprindo ao Estado a sua regulação.
Vários foram, são e serão os programas de harmonização fundiário-florestal, como o chamado “Programa Mais Ambiente Brasil”, instituído para apoiar a regularização ambiental das propriedades com ações de apoio à regularização ambiental das propriedades, educação ambiental, assistência técnica e extensão rural, produção e distribuição de sementes e mudas.
Importante, agora, observar o sistema interagindo funcionar e criar mecanismos de rápida solução de conflitos, que fatalmente ocorrerão dado à intensa informatização do cadastro.
Outra ação fundiária relacionada aos cadastros e com profundo impacto nos interesses difusos envolvendo povos indígenas e comunidades tradicionais foi proposta no Governo Jair Bolsonaro – Instrução Normativa FUNAI, nº9 de 2020, gerando, obviamente muita polêmica e judicialização.
Em articulação com o Ministério da Agricultura, a FUNAI buscou liberar do Cadastro Fundiário do INCRA centenas de áreas rurais gravadas por procedimentos incompletos de análise. O objetivo seria conferir segurança jurídica a um território equivalente ao tamanho do estado de Pernambuco.
Articulado com a Secretaria de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, a Fundação Nacional do Índio alterou as regras sobre a manifestação da entidade quanto à incidência e confrontação de imóveis rurais em terras indígenas tradicionais. Por essa norma, a entidade se manifestaria nessa matéria, junto ao sistema fundiário, somente no que tange às áreas já homologadas e às reservas indígenas e terras dominiais de comunidades indígenas reconhecidas com fundamento na Lei 6.001/1973 (Estatuto do Índio) e no Decreto 1.775 /1996.
Independente do sucesso na implementação ou judicialização dessas e outras iniciativas, evidente está a busca do Estado na harmonização inédita da legislação florestal com o regime fundiário cujo uso produtivo é regulado pelo direito agrário.
18. A batalha principiológica contra a Lei Florestal
A harmonização constitui o objetivo exegético do Código Florestal de 2012, como costurado pelo parlamento, visando estabelecer regras mais claras para a política florestal em nosso território.
O novo Código Florestal seguiu o regular processo legislativo – razão de ser de nossa democracia pluralista, assimétrica e poli cultural, estabelecendo regras mais claras de política florestal no território brasileiro.
Entretanto, a Procuradoria Geral da República (PGR) ajuizou três ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 4901, 4902 e 4903), com pedidos de liminar, no Supremo Tribunal Federal (STF), questionando vários dispositivos da Lei 12.651/12, relacionados às áreas de preservação permanente, à redução da reserva legal e também à anistia para quem promove degradação ambiental. O PSOL – Partido Socialismo e Liberdade, legitimado constitucionalmente, também ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI 4937).
Nas ações, a PGR pediu liminarmente a suspensão da eficácia dos dispositivos questionados até o julgamento do mérito da questão. Também foi pedida a adoção do chamado “rito abreviado”, o que permite o julgamento das liminares diretamente pelo plenário do STF em razão da relevância da matéria.
Passados cinco anos dormindo nos escaninhos do Supremo Tribunal, representando enorme fator de insegurança jurídica e desestabilização da autonomia dos poderes no Estado de Direito, as ações finalmente foram julgadas[25].
Pacificado o conflito, julgado o Estatuto constitucional com alguns pontos interpretados conforme, a economia agrícola vislumbrou alguma luz.
No entanto, os atores interessados no desenvolvimento do agronegócio e da implantação da infraestrutura nacional testemunharam a judicialização ocorrida como um elemento alarmante.
Há um labirinto principiológico no escuro beco do biocentrismo, lotado de indefinições jurídico-ambientais. Do episódio verificou-se uma preocupante desobediência à nova lei, articulada não pelos infratores recalcitrantes, mas, justamente pelos operadores do direito que deveriam implementá-la, dos agentes que deveriam justamente zelar pela legalidade.
A base para a desobediência, anote-se, fundou-se no malfadado penduricalho doutrinário apelidado de Princípio da Vedação ao Retrocesso Ambiental.
Esse “Princípio de Proibição” ou “Vedação de Retrocesso Ambiental”, no Brasil, não é um princípio, trata-se de mero exercício de proselitismo.
O direito constitucional brasileiro expressamente aponta quais as cláusulas pétreas sob as quais não se admite retrocesso. Com isso, não há “transporte teleológico” cabível, que busque introduzir no nosso direito algo que ele já possui. Trata-se de um pleonasmo, visando estender à norma infraconstitucional, ditado com outro nome, algo que o direito brasileiro já denomina e, portanto, delimita na constituição, como norma sob qual não se admite retrocesso.
A construção teleológica, sem qualquer base deontológica, nega o caráter dinâmico do equilíbrio ecossistêmico – que envolve todos os elementos biológicos, econômicos, sociais, climáticos, com dinâmicas próprias e que, por isso mesmo, refogem absolutamente ao domínio do direito – reconhecidos como fato. Ou seja, o que a construção panprincipiológica busca é a cristalização do meio por meio de silogismos.
Se já é impossível entender o que seja “equilíbrio” numa relação dinâmica, muito mais difícil é aplicar o freio da “proibição de retrocesso” a algo que não se sabe se recua ou avança. Com todo o respeito aos que aderem ao que chamam de princípio, a vedação de retrocesso é uma bobagem retorica que deveria ser riscada da doutrina moderna do direito.
Despiciendo dizer mais sobre a sociopatia representada pelo ativismo oficial baseado em doutrina mais que questionável, seja no sentido filosófico, seja no científico, seja mesmo no campo político e de Estado.
A questão do principiologismo inserto merece leitura atenta de artigo nosso, abaixo referenciado, onde afirmamos que “o que se espera é que a crítica se reproduza até fazer os pan-principiologistas recalcitrantes corarem de vergonha, ante os estragos que produzem com a insistência em laborarem contra o Estado Democrático de Direito, ainda que acreditando pretenderem “o melhor” para o país e o “meio ambiente” (seja lá o que devam entender como tal…)”[26].
19. A proporcionalidade no trato dos conflitos atuais
Se a doutrina da “proibição de retrocesso ambiental” deve ser vista com todos os senões a ela aplicáveis (até por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal), o princípio da proporcionalidade, largamente adotado pelo direito alemão do pós-guerra, há de ser visto como antídoto para o ativismo judicial, o panprincipiologismo e elocubrações dessa natureza, pois preceitua que nenhuma garantia constitucional goza de valor supremo e absoluto, de modo a aniquilar outra garantia de valor e grau equivalente.
Esse princípio, embora não se encontre expresso na Constituição Federal brasileira, reflete-se textualmente nos dispositivos que instituem garantias e direitos fundamentais, expressos na Carta.
Não por outro motivo, o princípio da proporcionalidade é critério utilizado de forma estrita pelo STF, para solucionar conflitos entre direitos fundamentais, comparando valores e interesses que estão envolvidos no caso posto sob análise judicial.
No campo da resolução de conflitos assimétricos, o critério da proporcionalidade torna-se meio essencial para que o Estado possa identificar, diferenciar, legitimar, avaliar, aferir, sopesar e tutelar atores e interesses em causa.
É o que se espera como forma de barrar a progressão da subjetividade à guisa de principiologismo, como forma de proibir o respeito à normatividade do Estado de Direito.
O regime florestal instalado com o marco legal de 2012, supera a insegurança jurídica gerada pelo cipoal de indefinições criado pela Medida Provisória de 2001, enterrada pela lei.
Também, na perspectiva histórica, a normatização regulatória da política florestal é agora apoiada pela tecnologia do georreferenciamento. Isso confere nova dimensão, que não existia para a solução dos seculares entraves de governança na história agrária do Brasil.
Nesse diapasão, a nova ordem florestal deve caminhar, buscando a conciliação com o regime fundiário e dirigindo os esforços implementadores para o direito agrário – com a reconstrução ou revitalização do Estatuto da Terra.
O sistema resultante deve fazer uso do mecanismo de revogação expressa e tácita das normas infralegais atreladas à legislação anterior. Diplomas legais que estipulam regimes definidos para biomas específicos, por sua vez, deverão ser analisados quanto á derrogação.
O patrimônio legal paralelo e regulatório oriundo do regime florestal anterior à nova lei, deve ser suprimido com criterioso método, ou revisto e reinterpretado conforme, nos limites e meios dispostos pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – o vetusto e útil Decreto-Lei 4.657 de 1942 alterado pela Lei 13.655 de 2018, que veda a decisão nas esferas administrativa, controladora e judicial, que decrete invalidação de ato ou norma com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Isso implica não apenas na avaliação concreta das consequências como na necessidade de impor regras de transição entre regimes – inclusive com a preservação de interpretações adotadas conforme a circunstância da época. Destarte, o choque cronológico dos regimes advindos da nova legislação, no campo ambiental e florestal, há de ser administrado com justificada e expressa motivação.
A assimetria secular, fundiária e ambiental, aqui longamente descrita e analisada, deve ser continuamente assimilada visando correção de rumos na gestão florestal e agrária do Estado. Essa atividade se fará com o apoio da tecnologia, da regulação e do efetivo controle territorial, conciliando interesses em prol da produtividade, da justiça, da segurança alimentar e da geração de divisas – bens que importam à economia nacional e justificam a função social do uso da propriedade.
20. Referências:
Almeida, Alfredo Wagner: “Os Quilombos e as Novas Etnias” , in http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Os-Quilombos-e-As-Novas-Etnias/52493387.html (pesquisado em 22.11.2017
Cavalcante, José Luiz: “Lei de Terras de 1850 – e a reafirmação do poder básico do Estado sobre a terra”, in Revista Histórica, vol 2, 2005, Arquivo Público do Estado de São Paulo
CLIMATE POLICY INITIATIVE; AGROICONE. Sumários. O Código Florestal pode ser nalmente implementado. E agora? Rio de Janeiro: INPUT, 2018.
Diniz, Mônica: “Sesmarias e posse de terras: política fundiária para assegurar a colonização brasileira”, in Revista Histórica, vol. 2, 2005, Ed. Arquivo Público do Estado de São Paulo
Ferreira, Waldemar: “História do Direito Brasileiro”, ed. Freitas Bastos, Rio, 1952, Vol. I, pg.83
Freitas, Décio: “Palmares – A Guerra dos Escravos”, Edições Graal, Porto Alegre, 1982
Jornal Valor, in http://www.valor.com.br/empresas/4856722/producao-brasileira-de-celulose-cresce-81-em-2016, visto em 24.11.2017
Nepomuceno, Carlos: “O Paradoxo Cognitivo”, in Inteligência Cognitiva Disruptiva – Blog do Nepomuceno ( versão 1.0 – 09/09/13) – http://nepo.com.br/blog/2013/09/09/o-paradoxo-cognitivo/ – acessado em 06.11.2017
Pedro, Antonio Fernando Pinheiro: “Entenda o Regulamento do Novo Cadastro Ambiental”, in Portal Ambiente Legal, http://www.ambientelegal.com.br/entenda-o-regulamento-do-cadastro-ambiental-rural/, pesquisado em 21/11/2017
Pedro, Antonio Fernando Pinheiro: “Morte ao Biocentrismo Fascista”, in The Eagle View – Blog, http://www.theeagleview.com.br/2013/12/morte-ao-biocentrismo-fascista.html, pesquisado em 21/11/2017
Pedro, Antonio Fernando Pinheiro: “Princípios de Direito, Principiologismos e Vedação de Retrocesso Ambiental”, conferência realizada para o IBRAM – Instituto Brasileiro de Mineração, no 16º Congresso Brasileiro de Mineração – in The EagleView – Blog, thtp://www.theeagleview.com.br/2015/10/ativismos-principiologismos-e-vedacao.html?q=principiologismos, visto em 21/11/2017
Pedro, Antonio Fernando Pinheiro: “Salve Ganga Zumba e Zumbi”, in “The Eagle View” – Blog, URL – http://www.theeagleview.com.br/2017/11/salve-ganga-zumba-e-zumbi.html , pesquisado em 21.11.2017
Pedro, Antonio Fernando Pinheiro: “Um Novo Código Florestal, Justo, Republicano e Democrático!”, in IAB – Instituto dos Advogados Brasileiros, https://www.iabnacional.org.br/mais/iab-na-imprensa/um-novo-codigo-florestal-justo-republicano-e-democratico, pesquisado em 21/11/2017
Pereira, O. D. : “Direito florestal brasileiro”. Ed. Borsoi, Rio de Janeiro, 1950
Resende, Keila Maria: “Legislação Florestal Brasileira: uma reconstituição histórica”, Univ. Lavras: UFLA, 2006, pg. 51
Sobrinho, Barbosa Lima: “O Devassamento do Piauí” – Brasiliana, vol. 255, Cia. Editora Nacional, 1946, pg. 50/61
Silva, José Bonifácio de Andrada: in “O Patriarca da Independência” – Brasiliana, vol 166, Cia. Editora Nacional, 1939, pg. 175/177 (e notas)
Site da EBC – Governo Federal, in http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2015-12/participacao-da-agropecuaria-no-pib-sobe-para-23-em-2015, pesquisado em 24.11.2017
Site do Governo Federal, in http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/07/agricultura-familiar-produz-70-dos-alimentos-consumidos-por-brasileiro, pesquisado em 24.11.2017
Sodero, Fernando Pereira: “Direito Agrário e Reforma Agrária”, Livraria Legislação Brasileira Ltda., ed. 1968, pg. 180
Sodero, Fernando Pereira: “Direito Agrário e Reforma Agrária”, Livraria Legislação Brasileira ltda., ed. 1968, pg.190
Sodero, Fernando Pereira: “Direito Agrário e Reforma Agrária”, Livraria Legislação Brasileira ltda., ed. 1968, pg.191
1º Workshop Brasileiro Sobre Crises Ambientais no Agronegócio – Conclusões e Consolidação de Propostas – in http://pinheiropedro.com.br/site/1-workshop-brasileiro-sobre-crises-ambientais-no-agronegocio/, visto em 21/11/2017
21. Notas
[1] Site da EBC – Governo Federal, in http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2015-12/participacao-da-agropecuaria-no-pib-sobe-para-23-em-2015, pesquisado em 24.11.2017
[2] Jornal Valor, in http://www.valor.com.br/empresas/4856722/producao-brasileira-de-celulose-cresce-81-em-2016, visto em 24.11.2017
[3] Site do Governo Federal, in http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/07/agricultura-familiar-produz-70-dos-alimentos-consumidos-por-brasileiro, pesquisado em 24.11.2017
[4] Nepomuceno, Carlos: “O Paradoxo Cognitivo”, in Inteligência Cognitiva Disruptiva – Blog do Nepomuceno ( versão 1.0 – 09/09/13) – http://nepo.com.br/blog/2013/09/09/o-paradoxo-cognitivo/ – acessado em 06.11.2017
[5] Diniz, Mônica: “Sesmarias e posse de terras: política fundiária para assegurar a colonização brasileira”, in Revista Histórica, vol. 2, 2005, Ed. Arquivo Público do Estado de São Paulo
[6] Sodero, Fernando Pereira: “Direito Agrário e Reforma Agrária”, Livraria Legislação Brasileira Ltda., ed. 1968, pg. 180
[7] Ferreira, Waldemar: “História do Direito Brasileiro”, ed. Freitas Bastos, Rio, 1952, Vol. I, pg.83
[8] Sobrinho, Barbosa Lima: “O Devassamento do Piauí” – Brasiliana, vol. 255, Cia. Editora Nacional, 1946, pg. 50/61
[9] Sodero, Fernando Pereira: “Direito Agrário e Reforma Agrária”, Livraria Legislação Brasileira ltda., ed. 1968, pg.190
[10] Freitas, Décio: “Palmares – A Guerra dos Escravos”, Edições Graal, Porto Alegre, 1982
[11] Almeida, Alfredo Wagner: “Os Quilombos e as Novas Etnias” , in http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Os-Quilombos-e-As-Novas-Etnias/52493387.html (pesquisado em 22.11.2017
[12] Pedro, Antonio Fernando Pinheiro: “Salve Ganga Zumba e Zumbi”, in “The Eagle View” – Blog, URL – http://www.theeagleview.com.br/2017/11/salve-ganga-zumba-e-zumbi.html, pesquisado em 21.11.2017
[13] Sodero, Fernando Pereira: “Direito Agrário e Reforma Agrária”, Livraria Legislação Brasileira ltda., ed. 1968, pg.191
[14] Silva, José Bonifácio de Andrada: in “O Patriarca da Independência” – Brasiliana, vol 166, Cia. Editora Nacional, 1939, pg. 175/177 (e notas)
[15] Cavalcante, José Luiz: “Lei de Terras de 1850 – e a reafirmação do poder básico do Estado sobre a terra”, in Revista Histórica, vol 2, 2005, Arquivo Público do Estado de São Paulo
[16] Cavalcante, José Luiz: “Lei de Terras de 1850 – e a reafirmação do poder básico do Estado sobre a terra”, in Revista Histórica, vol 2, 2005, Arquivo Público do Estado de São Paulo
[17] Resende, Keila Maria: “Legislação Florestal Brasileira: uma reconstituição histórica”, Univ. Lavras: UFLA, 2006, pg. 51
[18] Pereira, O. D. : “Direito florestal brasileiro”. Ed. Borsoi, Rio de Janeiro, 1950
[19] Idem
[20] Pedro, Antonio Fernando Pinheiro: “Um Novo Código Florestal, Justo, Republicano e Democrático!”, in IAB – Instituto dos Advogados Brasileiros, https://www.iabnacional.org.br/mais/iab-na-imprensa/um-novo-codigo-florestal-justo-republicano-e-democratico, pesquisado em 21/11/2017
[21] Pedro, Antonio Fernando Pinheiro: “Morte ao Biocentrismo Fascista”, in The Eagle View – Blog, http://www.theeagleview.com.br/2013/12/morte-ao-biocentrismo-fascista.html, pesquisado em 21/11/2017
[22] 1º Workshop Brasileiro Sobre Crises Ambientais no Agronegócio – Conclusões e Consolidação de Propostas – in http://pinheiropedro.com.br/site/1-workshop-brasileiro-sobre-crises-ambientais-no-agronegocio/, visto em 21/11/2017
[23] Idem
[24] Pedro, Antonio Fernando Pinheiro: “Entenda o Regulamento do Novo Cadastro Ambiental”, in Portal Ambiente Legal, http://www.ambientelegal.com.br/entenda-o-regulamento-do-cadastro-ambiental-rural/, pesquisado em 21/11/2017
[25] Julgamento concluído (28.02.2018). Decisão: O CF não resulta em retrocesso ambiental. Somente cinco pontos, dos trinta oito, foram considerados inconstitucionais, com as seguintes modicações na lei estabelecidas pelo STF: i. inclusão da obrigação de APP para as nascentes e olhos d’água intermitentes, isto é, aquelas que apresentam uxo d’agua somente durante a estação chuvosa; ii. proibição de intervenção em APP para instalações esportivas e gestão de resíduos; iii. a intervenção em APP somente será permitida quando não houver alternativa técnica ou locacional; iv. todas as Terras Indígenas (não apenas as demarcadas) e demais áreas de povos e comunidades tradicionais (não apenas as tituladas) passam a ter o mesmo tratamento legal dispensado às pequenas propriedades; v. a compensação de RL por meio da aquisição de Cotas de Reserva Ambiental (CRA) deve ocorrer em áreas de mesma “identidade ecológica”, dentro do mesmo bioma. (CPI; AGROICONE. O Código Florestal pode ser nalmente implementado. E agora? Rio de Janeiro: INPUT, 2018).
[26] Pedro, Antonio Fernando Pinheiro: “Princípios de Direito, Principiologismos e Vedação de Retrocesso Ambiental”, conferência realizada para o IBRAM – Instituto Brasileiro de Mineração, no 16º Congresso Brasileiro de Mineração – in The EagleView – Blog, thtp://www.theeagleview.com.br/2015/10/ativismos-principiologismos-e-vedacao.html?q=principiologismos, visto em 21/11/2017
*Antonio Fernando Pinheiro Pedro é advogado (USP), jornalista e consultor. Foi Secretário do Verde e do Meio Ambiente da Cidade de São Paulo (2000) e exerceu o cargo pioneiro de Secretário Executivo de Mudanças Climáticas do Município de São Paulo, de junho de 2021 a julho de 2023. Sócio fundador do escritório Pinheiro Pedro Advogados, é diretor da AICA – Agência de Inteligência Corporativa e Ambiental. Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros – IAB e Vice-Presidente da Associação Paulista de Imprensa – API. Foi o 1o. presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB/SP, presidente da Câmara Técnica de Legislação do CEBDS, presidente do Comitê de Meio Ambiente da AMCHAM – Câmara Americana de Comércio. Consultor do governo brasileiro, do Banco Mundial, da ONU e vários outros organismos encarregados de aperfeiçoar o arcabouço legal e institucional do Estado no Brasil. É Conselheiro do Conselho Superior de Estudos Nacionais e Política da FIESP, Presidente da Associação Universidade da Água – UNIÁGUA, Editor-Chefe do Portal Ambiente Legal e responsável pelo blog The Eagle View.
Fonte: The Eagle View
Publicação Ambiente Legal, 20/05/2025
Edição: Ana Alves Alencar
As publicações não expressam necessariamente a opinião dessa revista, mas servem para informação e reflexão.